A porta para a guerra está sempre aberta
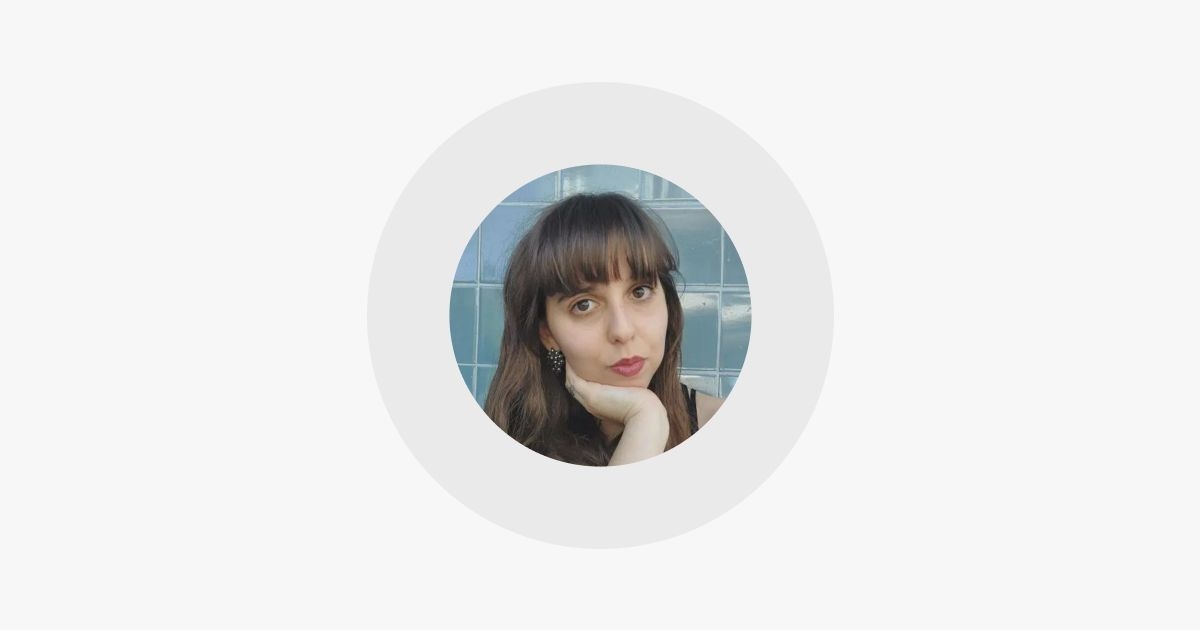
Não sei por onde começar. Sei que queria escrever este texto, sei que o queria escrever para qualquer pessoa, porque aquilo de que vou falar não necessita, a meu ver, de uma tomada de posição política nem histórica nem religiosa. Apenas necessita de uma consciência humana sobre o valor de qualquer vida humana. E que este texto possa ser um humilde grito para negar o esquecimento das famílias desfeitas, de todas as vidas inacabadas, seja no ataque de 7 de outubro em Israel, nos bombardeamentos em Gaza, nos kibutz, nos hospitais destruídos. Pelos corpos que ficaram no meio dos escombros, corpos de israelitas, de palestinianos, corpos sem nacionalidade, sem raça, sem diferenças. Apenas corpos com nome, com histórias feitas de amor, de alegria, de conquistas e de derrotas. Corpos feitos de carne, corpos que podiam ser os nossos. Tamar, Fatma, Oriya, Muhannad, Maayan, Yazan.
Hoje, gostava de falar de um documentário selecionado este ano para o Festival de Cannes. Chama-se “Com a alma na mão, caminha”, da realizadora iraniana Sepideh Farsi. Comigo, na sala do Cinema Ideal, estavam mais 4 pessoas, mas desde que o documentário terminou que tenho desejado que o mundo inteiro o pudesse ver. Todos os dias sem exceção, somos testemunhas da morte dos outros. Mas tudo se passa rápido, tudo acontece sem uma história, sem um nome, sem nada que possamos agarrar e chamar de nosso. Analisamos a guerra como se fôssemos químicos, separamos as moléculas da razão, tentamos fazer com que tudo o que acontece seja racional, perdemo-nos em explicações sobre contornos e territórios, sobre Estados e poderes, sobre líderes e terroristas. A morte é o verdadeiro terrorista e não o digo como um cliché mastigado para apelar ao leitor mais sensível. Digo-o porque acredito mesmo que todos podemos ser sensíveis, e somos, mesmo quando estamos adormecidos. Por vezes, como psicóloga, mas também como banal humana, chego a pensar como é que isto nos aconteceu — acharmos que a sensibilidade é uma falha e que a morte, de quem quer que seja, pode ser fragmentada em justificações.
Neste documentário, a realizadora iraniana acompanhou durante um ano a vida de Fatma, uma rapariga de 24 anos que vivia na zona nordeste de Gaza. Ambas fizeram inúmeras videochamadas com interrupções constantes, falhas na internet e na ligação. Sepideh fazia as chamadas de França, do Canadá, de Marrocos, mas Fatma esteve sempre em Gaza, por vezes no abrigo com vários membros da família, por vezes na casa de uma amiga para apanhar internet, por vezes fechada em casa com medo de sair, porque os snipers, nos telhados, disparavam indiscriminadamente em civis que caminhavam pelas ruas. Fatma era fotógrafa e poeta, e diz, com genuinidade, que no dia 7 de outubro de 2023 não soube quem tinha começado a guerra. Apenas soube que algo estava a acontecer.
Fatma tinha um sorriso grande e luminoso, era uma jovem mulher que sorria em todas as videochamadas. Quando contava que lhe tinha morrido mais um familiar num bombardeamento, a realizadora lamentava, mas Fatma sorria com vivacidade e dizia “está tudo bem, é normal”. Fatma dizia que o seu maior sonho era poder voltar a comer frango e confessou com alegria que se algum dia conseguisse sair de Gaza ia a Roma, porque queria conhecer a cidade do Vaticano, apesar de ser muçulmana e de acreditar que, segundo o Corão, tudo acontece por alguma razão, talvez até mesmo a guerra. Do outro lado da chamada, a realizadora, ateia assumida, confessa-lhe que não consegue concordar com ela, diz-lhe que se fosse ela talvez perguntasse ao seu Deus porque fez aquela guerra. Ambas se riem, Fatma acredita que um dia a guerra vai acabar. Mas enquanto não acaba, Fatma diz que não se sente uma pessoa normal, que não faz nada do que fazem as pessoas normais, que não anda em ruas normais, que não come o que as pessoas normais comem. Fatma não se sente uma pessoa.
Fatma tem uma força que nós não conhecemos, que nós não podemos conhecer. A maioria de nós não sabe o que é durante um ano sobreviver a água e a café comprados a custo, e a arroz e farinha quando os há; o que é estar numa videochamada e de repente um prédio a 200 metros desfazer-se à nossa frente. Fatma sorriu nervosamente quando isso aconteceu, um sorriso ansioso, mas, ao mesmo tempo, de inqualificável esperança. O prédio de Fatma podia ser bombardeado logo a seguir, mas não foi, não nesse dia. A maioria de nós não sabe o que é ver a nossa cidade arrasada, não sabe o que é relatar, como Fatma relatou, que a casa dos tios foi bombardeada e que encontrou a cabeça da tia no chão da rua, separada do resto do corpo.
Na psicologia, falamos muito sobre o facto de evitarmos pensar naquilo que nos “desarranja” a forma de viver. É verdade. Somos seres adaptativos, temos de sobreviver, afinal, aprendemos que o mais forte vence, e se sentirmos vontade de chorar e de ir para “os braços das nossas mães” de cada vez que pensamos sobre alguma coisa, tornamo-nos demasiado humanos. A pergunta é — e será que isso é possível, ser demasiado humano?
Este texto não é político. Ao contrário do que muitos dizem, penso nem tudo tem de ser político. Este texto foi escrito porque a capacidade humana de sentir medo é universal (excluindo certas perturbações e problemas de saúde mental). O que eu tive a oportunidade de ver neste documentário, a passar em Lisboa, no Cinema Ideal e no Cinema Fernando Lopes, na Universidade Lusófona, e em Coimbra, na Casa do Cinema, é uma janela escancarada para a realidade e uma oportunidade para nos relembrarmos de que somos “bichos da terra tão pequenos”. Fatma faleceu dia 16 de abril de 2025, um dia depois de se saber publicamente que o documentário em que nos contou a sua vida tinha sido selecionado para passar no Festival de Cannes. O prédio onde vivia com a família foi bombardeado de madrugada. Para além de Fatma, morreram vários membros da sua família, incluindo o pai, um irmão e a sua irmã grávida.
As guerras, seja esta, seja a da Ucrânia, que também ainda não acabou, sejam todas as outras que não têm o mesmo palco mediático, sejam as que estão por vir, nunca vão acabar enquanto não nos pusermos em contacto com o nosso medo de viver o mesmo que os outros. Nós achamos que nunca vai acontecer aqui. Que não vamos ver os nossos bairros, as nossas casas destruídas, a cabeça da nossa tia separada do corpo no meio da rua, que o nosso irmão mais novo nunca nos vai perguntar “quando é que acaba a guerra?” Nós achamos que os outros merecem aquele medo, o horror, mais do que nós. Nós achamos que os outros foram piores do que nós, que os outros têm razões para sentir aquele medo. E, na falta de argumentos, nós, como espécie, até somos capazes de inventar razões para matar. Já o fizemos, continuamos a fazer. Mas o mesmo Homem que um dia encontrou razões para matar um judeu, é o mesmo Homem que um dia encontra razões para matar um palestiniano. O mesmo Homem que encontra hoje razões para matar ucranianos, é o mesmo Homem que um dia pode encontrar razões para matar russos. A ideia de que a morte se justifica é uma fachada. E quando se justifica uma, justificamos todas e, enquanto o fizermos, a porta para a guerra está sempre aberta. Parece um pessimismo escrever esta frase quando já existe um acordo de cessar-fogo, mas a verdade é que os acordos se desfazem. A capacidade humana para voltar a arranjar motivos para matar inocentes é que nunca acaba.
Deixo a visualização do documentário na íntegra como sugestão. Às vezes, apercebemo-nos de que há muito tempo que não ficávamos 1 hora e 50 minutos parados no mesmo lugar, apenas a pensar sobre o medo que sentiríamos se fosse connosco.
observador




