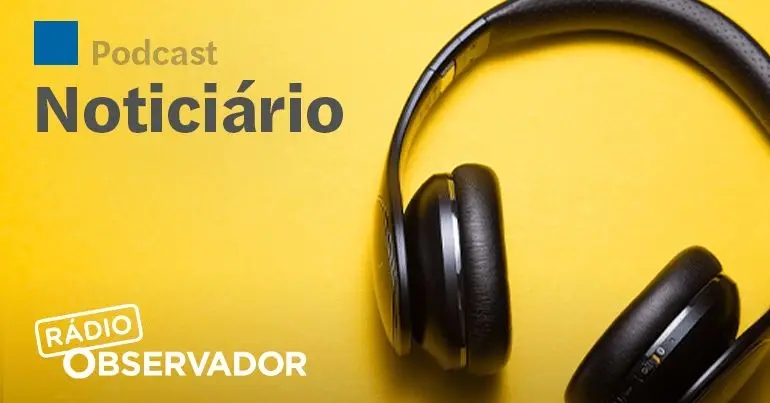Civilização Ocidental: um conceito volátil

[Este é o quinto de oito artigos a propósito de O mundo criou o Ocidente, de Josephine Quinn. Os anteriores podem ser lidos aqui:]
A Europa e a herança cristãO debate em torno do preâmbulo do Tratado Constitucional da União Europeia atesta a natureza fugidia do conceito de civilização ocidental. A redacção deste documento, que deveria substituir os sucessivos tratados que tinham vindo a ser assinados pelos países-membros ao longo do processo de “construção europeia”, unificando-os num texto que serviria não só para consolidar a identidade da UE como para definir o seu futuro, foi confiada à a Convenção Europeia, uma entidade criada expressamente para tal fim, em 2001, e liderada por Valéry Giscard d’Estaing. Porém, o esboço de preâmbulo, que a Convenção apresentou formalmente em Maio de 2004, mas já andava a ser debatido há algum tempo, dividiu opiniões: sete países de matriz católica – Itália, Lituânia, Malta, Polónia, Portugal, República Checa e Eslováquia – e um país de matriz cristã ortodoxa – Grécia – entenderam que a parte do preâmbulo que tratava dos valores europeus deveria incluir uma menção à “herança cristã ou judaico-cristã”. Esta pretensão enfrentou a oposição de quase todos os outros países, e, em particular, da França e da Bélgica. A “mui católica” Espanha, quando ainda era governada pelo Partido Popular (PP, democrata-cristão), também expressara o desejo de ver incluída a referência ao cristianismo no preâmbulo, mas o PP foi derrotado nas eleições legislativas de Março de 2004 e o Governo do PSOE que delas resultou retirou a Espanha do grupo da “herança cristã”, comprovando (se tal fosse necessário) que a definição de civilização europeia é como uma pluma ao sabor do vento da ideologia. Não tendo sido possível obter um consenso entre os países-membros da UE, a menção à “herança cristã ou judaico-cristã” não foi inserida no preâmbulo – e o assunto acabou por não ir mais longe, pois o Tratado Constitucional foi posto de lado, após ter sido rejeitado em referendos realizados na França e na Holanda em 2005.
Este episódio traz à memória a célebre frase de Santo Agostinho sobre o conceito de tempo: “Se ninguém me pergunta, sei o que é, mas se alguém me questiona, não sei explicar-lhe”. Conceitos como “Europa” e “valores europeus” são constantemente invocados pelos governantes europeus, pelas instituições europeias, pelos eurodeputados e pelos partidos que estes representam, mas, se alguém perguntar em que consistem exactamente, descobrir-se-á que ninguém tem a mesma ideia – se é que tem sequer uma ideia.

Santo Agostinho de Hipona (354-430), um dos Pais da Igreja, por Philippe de Champagne, c.1645
Se a questão da “herança cristã” da Europa se revelou polémica, já a ideia de que a União Europeia é herdeira da Grécia e Roma da Antiguidade Clássica costuma ter ampla aceitação. Porém, a verdade é que a Europa Ocidental só muito tardiamente reuniu credenciais para se candidatar a esta herança e, durante muitos séculos, o centro de gravidade do mundo greco-romano e das entidades políticas que lhe sucederam esteve situado a Oriente.
No ano 286, o imperador Diocleciano (que, é oportuno lembrá-lo, perseguiu os cristãos com denodo), entendendo que o Império Romano tinha uma extensão que tornava difícil geri-lo a partir de um único centro, dividiu-o numa parte oriental e numa parte ocidental, reservando o governo da primeira para si e designando um “imperador-adjunto” para governar a segunda. A partição promovida por Diocleciano, bem como as reformas que empreendeu na economia e no aparelho militar, foram uma tentativa de dar resposta à chamada “Crise do Século III”, que é balizada pelo assassinato do imperador Alexandre Severo (Marcus Aurelius Severus Alexander), em 235, e a ascensão ao trono de Diocleciano, em 284.

Invasões bárbaras do Império Romano durante a “Crise do Século III”: setas a verde, incursões bárbaras; áreas a verde, territórios perdidos para os bárbaros
No interim, o império foi assolado pelo afluxo maciço de povos “bárbaros” para o interior do império (quer de forma pacífica – migrações – quer de forma belicosa – as chamadas “invasões bárbaras”); por epidemias (nomeadamente a “peste de Cipriano”, durante a qual chegaram a morrer 5000 pessoas por dia só na cidade de Roma); por revoltas de camponeses; pelo enfraquecimento ou cessação de rotas comerciais; pela desvalorização monetária; e por incessantes guerras civis. Estas últimas estiveram associadas a uma ferocíssima luta pelo poder, durante a qual 26 indivíduos (maioritariamente comandantes militares) foram oficialmente reconhecidos pelo Senado romano como imperadores e outros tantos se autoproclamaram imperadores (e foram aclamados como tal pelas suas tropas ou pelas províncias que governavam); alguns destes imperadores apenas se mantiveram no poder durante alguns meses – o recorde de brevidade, entre os imperadores “oficiais”, vai para Gordiano I e para o seu filho, Gordiano II, que co-reinaram, a partir da província denominada como “Africa Proconsularis”, durante 22 dias, em Abril-Maio do ano 238 (o co-reinado de Gordiano II foi algumas horas mais curto do que o do pai: foi morto em combate e quando o octogenário Gordiano I recebeu a notícia do sucedido, pôs termo à sua própria vida e à fugacíssima e inglória “Dinastia Gordiana”).

Diocleciano e Maximiano, os co-imperadores que repartiram a governação das partes oriental e ocidental (respectivamente) do Império Romano após a partição de 286, numa moeda cunhada em 287
A “Crise do Século III” perturbou todo o império, mas fez-se sentir com particular dureza na cidade de Roma, um monstro disfuncional, dificilmente governável e cuja relação com o resto do império era parasitária. Face ao vertiginoso declínio sofrido por Roma durante a “Crise”, após subir ao trono, Diocleciano transferiu a capital da parte ocidental do Império para Mediolanum (Milão). Para capital da parte oriental, escolheu Nicomedia (hoje na Turquia), onde instalou a sua corte. Em 330, Constantino I transferiu a capital de Nicomedia para Constantinopla, que começara a ser construída, de raiz, em 324, perto do antigo porto de Bizâncio, por sua ordem (e que baptizou, inicialmente, como Nova Roma). A tendência para o imperador ficar com o governo do Oriente e o “adjunto” ficar com o Ocidente manteve-se nos reinados seguintes, o que é revelador de que, na fase tardia do Império Romano, a sua componente oriental era a dominante.
A separação administrativa do Império Romano entre ocidente e oriente acabaria por dar origem a duas entidades autónomas em 395, durante o reinado de Teodósio I. Por esta altura, a parte oriental, tornara-se ainda mais próspera, populosa e poderosa do que a parte ocidental, devido à dinâmica natural e também por os imperadores a terem favorecido cada vez mais em detrimento da parte ocidental, tendência que se acentuou durante o reinado de Constantino.

O Império Romano em 395, ano da sua cisão
É usual dizer-se e escrever-se que o Império Romano acabou em 476, embora esta data diga apenas respeito ao Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente (também conhecido como Império Bizantino, em alusão à cidade que antecedera Constantinopla) não só sobreviveu ao Império Romano do Ocidente por quase mil anos mais – só cairia em 1453 – como, após a cisão de 395, continuou a ganhar preponderância sobre o seu irmão ocidental. A deposição, em 476, do insignificante imperador ocidental Rómulo Augústulo pelo chefe “bárbaro” Odoacro teve lugar em Ravena, que, por estar, geograficamente, mais resguardada das frequentes invasões de hordas bárbaras, tomara, em 402, o lugar de Mediolanum como capital imperial.
Entretanto, Roma continuava a sua penosa decadência, agravada pelos cercos e saques pelos “bárbaros”: a sua população, que atingira um milhão nos séculos I e II, fazendo dela a mais populosa do mundo, caíra, em meados do século V, para meio milhão e continuaria a declinar até um mínimo de 30.000 habitantes em meados do século VI. Por esta altura Constantinopla atingira meio milhão de habitantes e era a cidade mais populosa do mundo e o Império Romano do Oriente, liderado por Justiniano I (reinado: 527-65), alcançava a sua máxima extensão.

O Império Romano do Oriente no tempo de Justiniano I
Se restasse alguma dúvida sobre qual das duas partes do Império era vista, na Idade Média, como herdeira do Império Romano da Antiguidade Clássica, basta atentar-se no nome que os árabes e, depois, os turcos, atribuíram aos habitantes do mundo bizantino: “rum”. “Rum” foi também o nome que deram à Turquia, por esta ser o coração do Império Romano do Oriente). Já os cristãos ocidentais, do rito latino, eram designados pelo Islão como “farangi” (a partir de um dos seus grupos mais proeminentes, os francos) e o território onde habitavam era o “Frangistan”.

Reconstituição de Constantinopla no apogeu do Império Bizantino
O longo período em que a Europa Ocidental foi um lugar pobre e tacanho e o Império Romano do Oriente foi a parte mais esplendorosa e poderosa da Cristandade e a herdeira do mundo greco-romano caiu no olvido, uma vez que, em todos os tempos e lugares, são os vencedores que escrevem a história. Quando se viu na mó de cima, a Europa Ocidental elaborou e difundiu um conceito de civilização ocidental em que os contributos extra-europeus eram minimizados e a Cristandade era identificada com a Cristandade Ocidental (que, no século XVI, sofreria nova cisão, ficando repartida entre católicos e protestantes). Haverá quem veja nisto uma calculista e matreira operação de revisionismo histórico, mas há que reconhecer que o movimento cultural que ficou conhecido como Renascimento e o estiolamento e dissipação do legado do antigo Império Romano do Oriente sob o jugo otomano acabou, efectivamente, por fazer da Europa Ocidental a indiscutível herdeira dos valores da fé cristã e da antiguidade greco-romana.
As tentativas de definir a essência das civilizações, de delimitar as suas fronteiras e de sintetizar os seus valores acabam, quase inevitavelmente, por cometer simplificações grosseiras, obliterar nuances e subtilezas e até gerar gritantes incongruências. Tome-se o caso de Samuel P. Huntington, cujo polémico livro de 1996, O choque de civilizações (ver capítulo “O fim da história, o choque de civilizações e outros equívocos” em Civilização ocidental: Josephine Quinn desafia a visão tradicional da história?), inclui um mapa das grandes civilizações globais, entre as quais se conta uma “civilização ortodoxa”, que engloba a Rússia e as nações de fé cristã ortodoxa dos Balcãs e da Europa de Leste. Acontece que, hoje, a maior parte das nações que Huntington designou como “ortodoxas” ou faz parte da quintessencialmente ocidental União Europeia (Grécia, Chipre, Bulgária, Roménia) ou formalizou a candidatura à adesão a esta (Macedónia do Norte, Moldávia, Montenegro, Sérvia). Além destas, também exprimiram vontade de aderir à UE as “ortodoxas” Ucrânia e Geórgia, as predominantemente islâmicas Albânia, Bósnia-Herzegovina e Kosovo (46% e 51% de muçulmanos, respectivamente) e as indubitavelmente islâmicas Kosovo e Turquia (93% e 95% de muçulmanos, respectivamente). Comprovando, se tal fosse necessário, a fragilidade e a escassa congruência das teses de Huntington, a Turquia não só é uma nação islâmica, como é a incontestada herdeira do Império Otomano, em tempos o inimigo mortal do Ocidente. Outra grave pecha da “civilização islâmica”, tal como definida por Huntington, é incluir três potências que se detestam figadalmente: Turquia, Irão e Arábia Saudita.

As civilizações em confronto, na perspectiva de Huntington, em O choque das civilizações
Uma vez que a UE não é uma mera organização de cariz económico – como tinham sido as suas antecessoras CECA e CEE – e também implica um elevado nível de integração política e social e a pertença à UE requer a adesão aos “valores ocidentais”, é legítimo interpretar a vontade generalizada de integração na “civilização ocidental” como uma rejeição da “civilização ortodoxa”. Assim sendo, esta ficaria reduzida à Rússia e à Bielo-Rússia – e é possível que, não fosse esta última ser governada, com mão de ferro, desde 1994 (três anos após ter-se tornado independente) por Aleksandr Lukashenko (ver De Minsk a Pinsk: Como foram desenhadas a história e a geografia da “Rússia Branca”), também ela já teria desertado – em termos civilizacionais – para Ocidente.

Assinatura do tratado conhecido como União de Lublin, em 1569, criando a Comunidade Polaco-Lituana, que englobava, entre outros territórios, parte substancial da moderna Bielo-Rússia. Quadro por Jan Matejko, 1869
Na parte oriental da Ásia, o mapa civilizacional de Huntington volta a apresentar divisões muito questionáveis, ao arrumar a República Popular da China, Taiwan, as duas Coreias, o Vietnam e Singapura na “civilização sínica” e ao fazer do Japão o único membro da “civilização japonesa”. Acontece que, apesar da fortíssima influência que a China exerceu sobre os países vizinhos ao longo de muitos séculos, hoje só a Coreia do Norte está alinhada com a China em termos de sistema político e, ainda assim, apenas parcialmente, já que a China se abriu ao capitalismo já há quatro décadas e a Coreia do Norte continua enquistada num comunismo dinástico, fundamentalista e concentracionário.
● O Vietnam fez, durante séculos, parte da esfera de influência do Império Chinês, recebeu inestimável auxílio da China quando das guerras que empreendeu para se libertar do colonialismo francês e para rechaçar o intervencionismo americano e partilha com a China a peculiar combinação de regime comunista autocrático com economia de mercado, mas é cioso da sua independência em relação ao grande vizinho do norte e a relação sino-vietnamita tem tido alguns momentos de tensão.
● Apesar da proximidade geográfica e da presente afinidade étnica, Taiwan teve durantes muitos séculos uma história separada da China continental e só foi colonizada por esta tardiamente e de forma superficial. Pode hoje ser vista, em termos de regime político e de organização da sociedade, como fazendo parte da “civilização ocidental”, ainda que formalmente viva num limbo existencial, para onde foi empurrada pela República Popular da China (ver Formosa mas não segura: Taiwan, uma ilha no limbo).
● Apesar de terem, cada um deles, uma cultura muito própria, refinada em muitos séculos de isolamento, Japão e Coreia do Sul também são hoje países “ocidentais” em termos de regime político e de organização da sociedade, e alinham quase sempre com os outros países da “civilização ocidental” em termos de relações internacionais. O Japão, embora orgulhoso da sua cultura milenar, procedeu, a partir de meados do século, a uma assimilação maciça de modelos ocidentais, primeiro no período Meiji, em que tomou como modelo principal a Grã-Bretanha, e depois no pós-II Guerra Mundial, em que assimilou inúmeros elementos da potência ocupante, os EUA.

“O Japão estreia-se sob os auspícios de Columbia”, cartoon de Louis Dalrymple na revista satírica americana Puck de 16 de Agosto de 1899: Columbia (os EUA) apresenta o Japão a Britannia (a Grã-Bretanha), sob o olhar das outras potências (nomeadamente Rússia, Turquia, Itália, Áustria-Hungria, Espanha e França)
● A Coreia do Norte e a Coreia do Sul, apesar de terem uma história comum desde os primórdios da civilização até 1945, divergiram drasticamente em termos políticos, económicos e sociais em apenas oito décadas. Ainda que, evidentemente, continuem a ter em comum a língua, o sistema de escrita e a gastronomia, o vestuário e a música tradicionais, pertencem hoje a dois blocos civilizacionais distintos – tão distintos que, desde a separação, a parte norte hostiliza constantemente a parte sul, ameaçando-a com a aniquilação, ou, pelo menos, com a subjugação.
● Finalmente, Singapura é um híbrido inclassificável: embora 75% da sua população tenha ascendência chinesa, é um cadinho de culturas que funciona em moldes de república parlamentar (com uma prática com laivos de autoritarismo, o que a leva a seja classificada como “democracia iliberal”) e possui um sistema legal derivado do britânico.

Plano da cidade de Singapura (1822), da autoria do tenente Philip Jackson. Singapura foi criada a partir do zero, por iniciativa de Stamford Raffles, governador da colónia britânica de Bencoolen, em Samatra
Conforme as suas conveniências, Huntington uma vezes define as civilizações em termos étnicos, outras em termos de religião dominante, outras em termos de sistema político, e o resultado só poderia ser uma manta de retalhos que se desfaz ao mais ligeiro toque. Como pode esperar-se que a teoria do choque de civilizações proposta por Huntington tenha qualquer utilidade na explicação do mundo, se o autor nem consegue definir consistentemente as várias civilizações?
Quais são os “nossos valores”?: uma polémica portuguesaO receio de que os imigrantes sejam uma ameaça à identidade e à segurança do país de acolhimento e os equívocos e atritos que daqui decorrem são temas incontornáveis do nosso tempo e, uma vez que muitos eleitores do mundo ocidental o colocam à cabeça das suas preocupações, ganharam lugar cativo no debate político e nas agendas mediáticas, pelo que foram assunto de relevo na entrevista de Pedro Nuno Santos (PNS) ao Expresso de 24.01.2025. PNS defendeu que o país deve exigir aos imigrantes o “respeito por valores que são partilhados: a nossa cultura e, obviamente, a lei, mas aí qualquer cidadão está comprometido” e que “quem procura Portugal para viver e trabalhar, obviamente, percebe, ou tem de perceber, que há uma partilha de um modo de vida, uma cultura que deve ser respeitada”. Um dos entrevistadores reagiu a esta afirmação com a observação “parece que estou a ouvir alguém de direita” e parte da esquerda portuguesa, incluindo a ala esquerda do PS, terá retirado conclusão similar, pelo que manifestou a sua indignação por o líder de um partido de (centro-)esquerda assumir posições tão “politicamente incorrectas” (para uma síntese e uma apreciação das reacções à esquerda ver Cultura portuguesa? O que é isso, se somos todos diferentes?, por João Miguel Tavares).

“Condução de cabrestos” (1890), por Silva Porto (pseudónimo de António Carvalho da Silva)
PNS foi também alvo de críticas vindas da direita, mas por motivos diferentes: PSD e CDS acusaram-no de ter mudado de opinião sobre as políticas de imigração – mas tal quezília é alheia ao escopo deste artigo. A verdade é que, hoje em dia, boa parte do “debate político” é irrelevante para boa parte das matérias, pois não passa de uma logomaquia ritualizada e estereotipada, ajustada ao mínimo denominador comum da audiência. Assim, é inevitável que até os assuntos tidos como importantes – incluindo a imigração, que tem sido o tema n.º 1 do debate político e foi determinante para o resultadas das últimas eleições legislativas – sejam tratados de forma superficial, errática e atabalhoada e que as incontáveis horas de debates e entrevistas não produzam o esclarecimento dos eleitores. A “polémica” em torno das declarações de PNS sobre imigração resultou não só de elas não reproduzirem a cartilha “politicamente correcta”, mas também de PNS se ter exprimido de forma vaga e pouco rigorosa (ou por não saber expressar-se melhor, ou por não ter ideias definidas sobre o assunto, ou, tendo-as, não querer revelá-las), e de os entrevistadores não o terem pressionado para clarificar a sua posição. Não há aqui nada de invulgar: é a rotina da pífia “política-entretenimento” que hoje domina o espaço público e que é conveniente para todos: os políticos não precisam de preparar-se para entrevistas e debates e entram em campo munidos apenas de “sound bites” e jactância; os mass media preenchem longas horas de programação com custos irrisórios, já que o ingrediente principal, os políticos, sai de borla; e o público entretém-se com um frouxo combate de wrestling verbal, em que, pontualmente, a peleja parece ficar encarniçada e se desferem alguns golpes aparatosos, mas obviamente encenados. Serve este longo arrazoado para deixar claro que as considerações que se seguem não têm por fito tomar posição sobre o tema imigração, nem defender ou atacar as propostas de PNS ou de outros políticos sobre imigração.

“Saloias” (final do século XIX), por Silva Porto
Dito isto, retomemos o fio argumentativo: uma das críticas mais elaboradas a PNS veio do sociólogo Pena Pires, no Público de 28.01.2025 (ver O contágio continua), que, ao pretender acusá-lo de “confusão entre integração e homogeneização cultural” e de se “deixar contagiar pelo discurso à sua direita sobre imigração”, desenrolou uma argumentação cujo fito parecia ser, antes, provar que os portugueses não possuem uma cultura ou um sistema de valores partilhado: “Qual é o modo de vida dos portugueses: bater na mulher, comer couratos e ir à bola? Ver ópera, ler livros e comer fora? Ler livros, comer bacalhau e ser católico? Portugal, como qualquer país desenvolvido, é uma sociedade plural na qual existem muitos modos de vida e culturas. A liberdade e a individualização são os grandes mecanismos geradores do pluralismo cultural”. Para Pena Pires, apenas “não são respeitáveis ideias e modos de vida que violem os direitos humanos universais, ponto. O respeito pelos direitos humanos, e pela lei, tem de ser exigido a todos os que residem em Portugal, sejam nacionais ou estrangeiros, descendentes de imigrantes de tempos [distantes] […] ou imigrantes recentes”.
Não se percebe, então, o que leva Pena Pires a achar tão detestável a proposta de PNS, já que é evidente que este não advoga que todos os imigrantes sejam internados durante seis meses em campos de reeducação cujo sistema sonoro difunde fado 12 horas por dia e onde serão obrigados a frequentar workshops de corridinho, cante alentejano e História do Benfica e serão alimentados apenas com caldo verde, bacalhau, cozido à portuguesa e pastéis de nata.

“O fado” (1910), por José Malhoa. Será que quem não se comove ao ouvir cantar o fado não é um português de bem?
Não são necessários estudos aprofundados de semiótica para perceber que a cultura e modo de vida que PNS entende deverem ser respeitados pelos imigrantes não são a cultura e modo de vida especificamente portugueses, mas as regras de vida em sociedade comuns às democracias liberais de modelo ocidental (que representam boa parte, mas não a totalidade, dos “países desenvolvidos”). Os indianos que imigram para a Finlândia não são obrigados a fazer sauna, os marroquinos que imigram para Espanha não são obrigados a fazer a sesta, os moldavos que imigram para Portugal podem continuar a festejar o Natal a 7 de Janeiro. O que se espera deles é que se ajustem ao mínimo denominador comum da vida em sociedade nas democracias liberais de modelo ocidental, denominador comum que decorre “dos direitos humanos e da lei” – ou seja, a posição de PNS parece ser, na essência e na prática, similar à de Pena Pires.
A convivência de culturas e os seus desafiosOs debates sobre imigração no espaço mediático costumam ser improdutivos não só pelas razões acima apontadas, mas também porque a “correcção política” (ou a hipocrisia) impede que se identifique onde estão os verdadeiros problemas e leva a que se finja que os imigrantes são todos iguais, seja qual for a sua proveniência. Ora, todos os imigrantes são iguais perante a lei, mas isso não significa que não coloquem diferentes problemas de integração na sociedade de acolhimento. No Algarve instalaram-se há quatro ou cinco décadas muitos milhares de britânicos, alemães e holandeses, sem que alguma vez se levantasse a questão da sua integração. No final da década de 1990 chegaram muitos milhares de ucranianos (pertencentes à “civilização ortodoxa”, na classificação de Huntington), levando a que, em 2002, fossem eles a maior comunidade imigrante em Portugal, posição que é hoje ocupada pelos brasileiros (pertencentes à “civilização latino-americana”, na classificação de Huntington), mas nem ucranianos nem brasileiros suscitaram ou suscitam preocupações relativas à sua integração. Em Portugal, as questões de integração só começaram a surgir nos últimos anos, quando os fluxos migratórios passaram a incluir números apreciáveis de pessoas vindas de países asiáticos, alguns deles de fé islâmica. Pela Europa fora, o padrão é análogo: os que têm maior dificuldade em integrar-se (ou que não se esforçam por integrar-se) são os que provêem de países asiáticos e africanos e, em particular, daqueles que têm o Islão como religião oficial. Não porque estas pessoas sejam intrinsecamente malévolas, quezilentas, desonestas ou criminosas (“bad hombres”, como dizia Donald Trump dos imigrantes mexicanos), mas porque as suas referências essenciais da vida em sociedade diferem das que são usuais nos países de modelo ocidental.

Percentagem de população islâmica na Europa e Próximo Oriente: quanto mais escuro o verde, maior a percentagem (dados de 2024)
Pode debater-se em que consistem exactamente a “civilização ocidental” e a “civilização islâmica”, mas é indiscutível que existem diferenças de monta entre elas, sobretudo no que respeita ao papel da religião na vida quotidiana dos cidadãos, no ordenamento jurídico e na governação do país. Pena Pires pretende convencer o leitor de que a resolução das questões postas pela imigração é muito simples: bastaria o “respeito pelos direitos humanos e pela lei”. Ora, se tudo se resumisse ao respeito pela lei, a integração dos imigrantes não seria – nem em Portugal nem nos outros países ocidentais – um bico-de-obra: bastaria que as forças da ordem e os tribunais fizessem cumprir o disposto na legislação. Mas como nem todos os “direitos humanos” são garantidos pela lei (como formulação empregue por Pena Pires admite implicitamente), de que forma e através de que instâncias deverá ser assegurado que todos os respeitem? E como se resolvem os casos que caem na zona cinzenta entre a lei, os direitos humanos e a liberdade individual?
Os países que há cinco ou seis décadas acolhem no seu seio vastas comunidades de imigrantes (e descendentes de imigrantes) que professam a fé islâmica, como é o caso da França, da Alemanha, do Reino Unido, da Holanda ou da Bélgica, têm vindo a defrontar-se com as numerosas e delicadas questões que florescem nessa zona cinzenta. Em que medida é que as múltiplas restrições impostas pela doutrina islâmica às mulheres lesam os direitos humanos destas? Como deverá o Estado, nos países desenvolvidos e plurais conciliar os direitos dos praticantes da fé islâmica com os direitos humanos? É admissível o uso de hijab ou de burqa pelas mulheres no espaço público ou há profissões, contextos e interacções sociais em que deve ser proibido? Será legítimo obrigar quem se apresente numa zona balnear envergando um burkini, ou outro vestuário que deixe pouca pele à vista, a descobrir-se ou a abandonar o local?

Proibição do uso de véus que cobrem todo o rosto na Europa: a vermelho, proibição a nível nacional; a rosa, proibição determinada por governos de certas regiões e cidades; a rosa-acastanhado, proibição determinada pelo governo central nalguns locais do país
Uma comunidade local que professa a fé islâmica pode exigir que uma piscina municipal ou um ginásio passe a ter horários separados para homens e mulheres? Os pais de fé islâmica podem exigir que as suas filhas que frequentam o ensino público sejam isentas das aulas de educação física e de educação sexual, ou de qualquer aula em que possam ser expostas a ideias contrárias à doutrina islâmica? Deverão as ementas das cantinas de instituições públicas (nomeadamente escolas) ser obrigadas a oferecer opções halal, e, em caso afirmativo, contemplar também opções dietéticas particulares para todas as religiões, etnias e “seitas” ortoréxicas que as solicitem? Se se aceitar que alguns assuntos das comunidades islâmicas, como casamentos e divórcios, sejam regulados pela sharia, até onde pode permitir-se que esta se sobreponha à lei geral do país? E o que acontecerá se outras comunidades religiosas ou étnicas também reclamarem o direito a serem reguladas por um código legal próprio? Deverão ser proibidas manifestações em que exemplares do Corão sejam queimados ou profanados, ainda que a lei não interdite a destruição de qualquer outro livro? Deverão os humoristas, cartoonistas e criadores em geral abster-se de satirizar o Islão e as suas práticas e de representar graficamente Maomé, ainda que, no que respeita a outras crenças religiosas, o Estado não imponha restrições à liberdade de expressão (para lá das previstas na lei, como sejam a calúnia e a incitação à violência) e não reconheça a “blasfémia” como crime? Porque deverão as crenças religiosas – e, em particular, as religiões organizadas – gozar de maior protecção do sistema legal do que as crenças filosóficas ou políticas?

A Grande Mesquita de Paris foi construída em 1922-26, a fim de homenagear os soldados de fé islâmica provenientes das colónias francesas que combateram pela França durante a I Guerra Mundial
Em História para amanhã, o filósofo Roman Krznaric identifica entre os grandes problemas do nosso tempo o “sentimento anti-imigrantes [que] está a crescer acentuadamente em muitos países, com os partidos de direita e os meios de comunicação a alimentar os fogos da xenofobia e a aproveitar-se dos medos geminados de que os imigrantes ‘roubem os nossos empregos’ e ‘ameacem o nosso modo de vida’” (pg. 47) e propõe que se olhe para o exemplo do emirado/califado de Córdova durante a Idade Média, que terá “alcançado um feito civilizacional quase miraculoso: ter comunidades muito diferentes [muçulmanos, cristãos e judeus] a viver no mesmo lugar, numa paz muito relativa, durante longos períodos de tempo”, um fenómeno conhecido como a “Convivencia” (ver capítulo “Migrantes e harmonia intercultural” em História para amanhã pt.2: Migrações, sustentabilidade e redes sociais). A sugestão de Krznaric será bem intencionada, mas parece ignorar o abismo que separa a Córdova medieval da Paris, da Londres ou da Córdova do século XXI: não só as atribuições e responsabilidades do Estado para com os cidadãos são hoje muito mais abrangentes e profundas, como os cristãos e judeus de Córdova estavam longe de ter os mesmo direitos que os muçulmanos e a “tolerância” com que as minorias eram tratadas comportava restrições de direitos, humilhações e iniquidades que seriam inadmissíveis numa democracia moderna – já não mencionando o facto de as fortes tensões geradas pela “Convivencia” no emirado/califado de Córdova serem, amiúde, libertadas em episódios de violência extrema contra cristãos e judeus.

Uma mulher cristã toca alaúde (derivado do oud árabe) enquanto duas mulheres islâmicas jogam xadrez (jogo originário da Índia, através da Pérsia): iluminura no Libro de axedrez, dados e tablas ou Libro de los juegos (c.1283), compilado por iniciativa de Alfonso X el Sabio, rei de Castela
No que respeita ao “debate civilizacional”, o artigo “O contágio continua”, de Rui Pena Pires assenta em dois argumentos questionáveis:
1) Uma vez que nas sociedades ocidentais coexistem “muitos modos de vida e culturas”, tal significa que não possuem um corpo de valores próprio – a sua característica é a ausência de características dominantes, ou seja, o pluralismo;
2) Quem defenda que existe um corpo de valores comum a uma nação ou a uma civilização e que esses valores devem ser respeitados por todos (incluindo os imigrantes) está, necessariamente, contagiado pelo discurso anti-imigração da extrema-direita.
O segundo argumento não merece discussão elaborada, pois é apenas uma manifestação da polarização e do maniqueísmo que tomaram conta do debate ideológico e que matam à nascença qualquer diálogo produtivo.
O primeiro argumento assenta num raciocínio falacioso, uma vez que o facto de uma sociedade ser pluralista – ou seja, de aceitar a diversidade de modos de vida e culturas – não exclui a existência de um modo de vida e de uma cultura dominante e da aceitação de um conjunto de valores partilhados. Um exemplo simples: em Portugal, ninguém impede ou tenta dissuadir as mulheres de fé islâmica de, no espaço público, usarem vestuário que apenas lhes deixa à vista as mãos e o rosto, ainda que a sociedade portuguesa não abrace essa prática e ainda que o estatuto da mulher em Portugal seja muito diferente do estatuto da mulher no mundo islâmico.

Celebração do Vaisakhi, um festival tradicional da cultura sikh, em Toronto, no Canadá
O primeiro argumento está em sintonia com o “ar do tempo” na academia e na política de esquerda do século XXI (ver capítulo “A civilização ocidental como flagelo planetário” em Civilização ocidental: A Sociedade Internacional para a Supressão da Selvajaria) e também com a perspectiva de Quinn em O mundo criou o Ocidente, de que a “civilização ocidental” é apenas uma ficção conveniente criada – tardiamente – pelo Ocidente. Em apoio desta tese, Quinn argumenta, em entrevista ao Observador, que o termo “civilização” “não existe em nenhuma língua antes do século XVIII” e que “a ideia de muitas civilizações […] só surge no século XIX”. Porém, a tardia cunhagem da palavra não significa que antes do século XVIII não existisse civilização ou que os povos (ou, pelo menos, as suas elites) não se vissem como fazendo parte de uma civilização.
O facto de ninguém ter proposto um termo para designar um fenómeno ou uma realidade – ou de, existindo esse termo, não ter curso – não significa que esse fenómeno ou realidade não existam. O termo “imperalismo” foi usado pela primeira vez por Thomas Beverley, em 1684, embora o imperialismo fosse uma realidade corrente desde o tempo do império acadiano (ou seja, a partir do século XXIV a.C.). Por outro lado, deve realçar-se que, se o primeiro uso registado da palavra “civilização” (do latim “civis” = “cidadão”) apenas surgiu em 1757, na obra L’ami des hommes ou Traité sur la population, de Victor de Riqueti, mais conhecido como marquês de Mirabeau, a primeira aparição da palavra “nacionalismo” é ainda posterior, surgindo em 1772 no Tratado da origem da língua, do filósofo prussiano Johann Gottfried Herder, sem que isto signifique que as pulsões nacionalistas só tenham surgido nesta altura. Talvez não seja uma coincidência que os termos para designar realidades e fenómenos há muito conhecidos só tenham sido cunhados nos séculos XVII-XVIII, a Era das Luzes, da racionalidade, da sistematização do conhecimento e da primeira enciclopédia moderna (a Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, editada por Denis Diderot & Jean d’Alembert e publicada entre 1751 e 1772).

Página de rosto do I volume, surgido em 1751, da Encyclopédie
Nas discussões sobre a origem dos conceitos de “civilização”, “nação” e “nacionalismo” convém ter presente que a esmagadora maioria da população viveu durante muitos séculos completamente alheada de tão transcendentes elucubrações e que a sua vida e as suas preocupações estavam firmemente ancoradas na comezinha realidade local. Ou seja: se é certo que, até um momento relativamente recente na história da humanidade, a maioria das pessoas não se via como fazendo parte de uma civilização, a verdade é que, até à viragem dos séculos XVIII-XIX, muitas pessoas nem sequer se viam como fazendo parte de uma nação, ou, pelo menos, não entendiam essa pertença nos termos actuais.
Num tempo em que as taxas de analfabetismo eram elevadas, a disseminação de informação limitada às elites e as viagens lentas, dispendiosas e arriscadas, a realidade da maior parte da população rural estava circunscrita a um raio de algumas dezenas de quilómetros em torno do lugar onde viviam e as notícias (atrasadas, truncadas e deformadas) que lhes chegavam sobre o monarca, a corte, o parlamento, a governação e outros eventos de escala nacional pouco lhe diziam. Muitos seriam incapazes de reconhecer um retrato do seu soberano ou de nomear um só dos seus ministros e só aprenderiam a cantar o hino nacional se fossem recrutados para o serviço militar.
Some-se a este distanciamento o facto de alguns povos só muito tardiamente terem cristalizado como nações: a unificação da Alemanha só teve lugar em 1866-71 e a da Itália em 1848-71; a Bélgica só emergiu como entidade autónoma em 1830 e a Finlândia em 1917; na Europa de Leste a identidade nacional foi um conceito muito impreciso, vago e mutável até ao século XX (ver De Kharkiv a Mariupol: Como foram formadas as cidades que contam a história da Ucrânia, De Kaliningrad a Petropavlovsk: A geografia da Rússia, um país que se diz “cercado” e De Minsk a Pinsk: Como foram desenhadas a história e a geografia da “Rússia Branca”). E houve nações que, embora cedo tivessem proclamado a sua independência, foram subjugados por nações vizinhas ou perderam autonomia devido a uniões dinásticas, só voltando a recuperar plena independência no século XX – é o caso da Polónia e da Noruega.
Mas mesmo os países com origens mais antigas tiveram, até muito tarde, uma identidade rarefeita e insubstancial, pelo menos pelo padrão hoje corrente. Veja-se o caso da França, nação de venerandas origens, que remontam a Clovis I, que se proclamou “rei de todos os francos” por volta de 507, e a Carlos II, o Calvo, que, em 843, foi coroado rei da “Francia” (a parte oriental do império carolíngio).

Clovis I, o primeiro rei dos francos, a esposa, Clotilde, e os filhos, numa iluminura das Grandes chroniques de France
A identidade nacional francesa tinha a seu favor, para lá da antiguidade das raízes, o facto de, em 1539, ter sido decretada a substituição do latim nos documentos oficiais pelo francês, e de, em 1635, no reinado de Luís XIII, o cardeal Richelieu ter fundado a Académie Française, atribuindo-lhe o papel de autoridade máxima na regulamentação da língua francesa e a missão de publicar o dicionário oficial desta. Todavia, quando, entre 1790 e 1794, se levou a cabo, sob a orientação do Abbé Grégoire (Henri Jean-Baptiste Grégoire, bispo de Blois), um levantamento do uso da língua em França, os resultados obtidos revelaram-se descoroçoantes: dos cerca de 28 milhões de franceses, apenas 3 milhões tinham o francês-padrão da região de Paris como língua materna; no país, além do bretão (uma língua celta herdada de outra era), dos idiomas “transfronteiriços” (basco, catalão, alsaciano, loreno, flamengo, corso, etc.) e dos idiomas das comunidades minoritárias (iídiche, crioulos, etc.), falavam-se 33 dialectos do francês (patois); para mais, a inteligibilidade entre estes dialectos e entre estes dialectos e o francês-padrão era baixa, havendo 6 milhões de cidadãos incapazes de falar ou compreender a língua francesa. Em síntese: a França era uma Torre de Babel.

Henri Grégoire, retratado em 1800 por Pierre Joseph Célestin François
O Abbé Grégoire, a quem tinha sido confiada a reestruturação do ensino público, apresentou em 1794 à Convenção Nacional (o parlamento eleito após a Revolução de 1789) um “Relatório sobre a necessidade e os meios para aniquilar os patois e universalizar o uso da língua francesa”, em que defendia que a uniformização da língua era indispensável para “fundir todos os cidadãos na massa nacional” e “criar um povo”. No discurso “A nossa língua e os nossos corações devem estar em uníssono”, proferido a 4 de Julho de 1794 perante a Convenção, o Abbé Grégoire exortou a nação a dar prioridade ao “uso único e invariável da língua da liberdade”, algo que “nunca fora plenamente alcançado por povo algum” e que via como o sustentáculo de “uma República una e indivisível”.
Se a França, após existir como nação independente e grande potência europeia durante cerca de um milénio, ainda não conseguira fazer os seus habitantes entenderem-se entre si, quanto mais fazê-los coalescer num todo coerente e homogéneo, pode imaginar-se quão diáfano e flutuante seria o sentimento de identidade nacional entre os restantes povos da manta de retalhos europeia. Neste domínio, a situação de Portugal, com uma dimensão territorial modesta, entalado entre o oceano e um único vizinho, possuindo “as mais velhas fronteiras da Europa” e uma história independente que remontava ao século XII (e que apenas conheceu um interregno durante a “União Ibérica” de 1580-1640), era invulgar no quadro europeu.
Seja como for, o nacionalismo moderno, ou seja, a identificação apaixonada e intransigente de um povo com um território, uma bandeira, um hino, uma história, uma galeria de heróis e mártires, e uma maneira particular de cozinhar o borrego ou o bacalhau, foi, essencialmente, uma invenção da Europa do século XIX, e foi acompanhada, como observou H.G. Wells, por “a ideia da cristandade como uma irmandade global ter mergulhado no descrédito” (in The outline of history, 1919-20).

“A lição de geografia” (c.1877), pelo pintor francês Albert Bettanier: O professor aponta, no mapa de França, os territórios (a negro) da Alsácia e da Lorena, perdidos para a Prússia na Guerra Franco-Prussiana de 1870-71
Regressando ao artigo “O contágio continua”, de Rui Pena Pires, vale a pena determo-nos no termo “direitos humanos universais”. Existe, com efeito, uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, que lista, em 30 artigos, os “direitos básicos e liberdades fundamentais” do ser humano, mas não foi escrita pelo dedo de uma divindade em duas lajes de pedra e entregue a um profeta no alto de uma montanha envolta em nuvens; nem foi transmitido, ao longo de 23 anos, por uma divindade a um profeta iletrado usando um anjo como intermediário; nem desceu como iluminação divina sobre um sábio que meditava há 49 dias, imóvel, sob uma figueira sagrada; e também não emanou de um monolito negro deixado na Terra por uma inteligência superior de origem extraterrestre. A declaração não só não surgiu ex nihilo, como não é universal, eterna e imutável. Tem uma data e um lugar de nascimento e um contexto cultural e histórico preciso. Foi elaborada por uma comissão de redacção designada pela Comissão de Direitos Humanos da ONU (UNCHR, na sigla inglesa) e presidida por Eleanor Roosevelt (viúva do presidente americano Franklin D. Roosevelt) e constituída por juristas, políticos, filósofos, teólogos e diplomatas de diversos países, e foi aprovada na 3.ª sessão da Assembleia Geral da ONU, reunida no Palais de Chaillot, em Paris, a 10 de Dezembro de 1948 (a actual sede da ONU, em Nova Iorque, só seria inaugurada quatro anos depois), com 48 votos a favor, oito abstenções e duas ausências, entre as 58 nações que então constituíam a ONU.

A reunião inaugural da Comissão de Direitos Humanos da ONU, que teve lugar em Janeiro-Fevereiro de 1947, nomeou Eleanor Roosevelt (quarta a contar da esquerda) para presidir à comissão de redacção da Declaração Universal dos Direitos Humanos
A Declaração Universal dos Direitos Humanos não poderia ter surgido antes, por um lado porque a sensibilidade das opiniões públicas e dos governante não lhe era propícia e, por outro lado, porque ela é uma reacção à divulgação alargada e detalhada das barbaridades cometidas na II Guerra Mundial, sobretudo pelas nações do Eixo – não é despiciendo que a declaração tenha nascido por iniciativa das democracias ocidentais que, em coligação com a URSS, sob a designação formal “Nações Unidas”, tinham derrotado o Eixo.
A lista dos países que se abstiveram na votação de 10 de Dezembro de 1948 é eloquente:
1) África do Sul, que, seguramente, interpretou a Declaração Universal dos Direitos Humanos como uma ameaça ao seu sistema de apartheid;
2) Arábia Saudita, que, seguramente, não viu com bons olhos a atribuição de direitos iguais a homens e mulheres, a proibição da tortura e da escravatura e a defesa da liberdade religiosa;
3) URSS, que protestou formalmente por a declaração colocar os direitos do indivíduo à frente dos direitos da sociedade, o que é uma maneira artificiosa e sonsa de dizer que entendia que as liberdades de pensamento, opinião, expressão, associação, religião, consciência e movimentação, o direito à propriedade e a proibição da tortura eram incompatíveis com o regime comunista;
4) Ucrânia e Bielo-Rússia, que, à data, tinham, bizarramente, direito a voto na ONU, ainda que fossem repúblicas da URSS e não nações independentes;
5) Checoslováquia e Polónia, que eram regimes comunistas ferreamente controlados por Moscovo,
6) Jugoslávia, que, embora tivesse acabado de romper com o “bloco soviético”, não deixava de ser um regime comunista de partido único e, como tal, não tinha apreço pelas amplas liberdades consagradas na declaração.
As principais fontes de inspiração da Declaração Universal dos Direitos Humanos foram os filósofos do Iluminismo e as revoluções do final do século XVIII, nos EUA e em França, que fizeram dos direitos humanos parte integrante das leis fundamentais das nações, através de documentos pioneiros como a Declaração de Independência dos EUA (1776), a Constituição dos EUA (1789), a Bill of Rights (1791, EUA) e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789, França), que tinham sido antecedidas pela Bill of Rights inglesa, de 1689 (também ela fruto directo de uma revolução, a “Glorious Revolution” de 1688, que depusera o rei Jaime II, mas com raízes que remontam à Magna Carta de 1215).

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, segundo Jean-Jacques Le Barbier
Embora a Declaração Universal dos Direitos Humanos aspire à universalidade, é indiscutível que os valores em que se inspira foram maioritariamente debatidos, desenvolvidos e aperfeiçoados no Ocidente, ainda que não possa ignorar-se que civilizações não-ocidentais promoveram, pelo menos em determinadas épocas, princípios e preceitos similares. Aliás, a composição multinacional da comissão de redacção permitiu que a declaração incorporasse influências de outras culturas e sensibilidades, tendo sido particularmente relevante o contributo do vice-secretário da comissão, P.C. Chang, representante da China (a China dita “nacionalista”, do Kuomintang, que daria lugar, a partir de 1949, à República Popular da China), que deixou claro que a declaração não deveria limitar-se a espelhar as perspectivas ocidentais, que sugeriu que todos os membros da comissão deveriam consagrar alguns meses ao estudo do confucionismo e que logrou, efectivamente, incorporar na declaração elementos confucionistas.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, embora estando longe de ser um documento perfeito – era, por exemplo, omissa sobre a pena capital, ainda que proclamasse que “todo o indivíduo tem direito à vida” – é um marco na história da humanidade e serviu de base a documentos similares surgidos posteriormente no âmbito da ONU e do direito internacional, alguns dos quais conferiram expressão jurídica aos princípios que a declaração enunciava em abstracto.

Eleanor Roosevelt com um cartaz com a “Declaração Universal dos Direitos Humanos”, 1949
Deve sublinhar-se que o carácter marcadamente “ocidental” dos “direitos humanos universais” não se circunscreve aos princípios em que aqueles se inspiram. A civilização ocidental tem também mostrado maior empenho na sua aplicação no seu próprio território (apesar de enviesamentos e recuos temporários), como poderá comprovar-se pelos relatórios anuais da Human Rights Watch, em que a “civilização ortodoxa” (a URSS e a sua “sucessora”, a Federação Russa), a “civilização islâmica” e a “civilização sínica” (essencialmente a China) têm, sistematicamente, desempenhos lamentáveis.
Por outro lado, os países ocidentais (na acepção lata, que inclui Austrália, Nova Zelândia, Japão e Coreia do Sul) têm também usado o seu “soft power” para tentar alargar os “direitos humanos universais” a países cujos governos não têm por eles grande apreço (ou os vêem como empecilho ou ameaça ao seu poder e aos seus interesses). Têm sido os países ocidentais, e, em particular, a União Europeia, que se têm esforçado (nem sempre de forma justa e consistente, é verdade) por vincular as parcerias económicas e aduaneiras e os programas de assistência militar, educativa, financeira e humanitária à adopção pelos governos dos países “em desenvolvimento” de medidas que promovam os “direitos humanos universais”, a democracia e a transparência e combatam a corrupção. Poderá acusar-se o Ocidente de hipocrisia, de dualidade de critérios e de neocolonialismo na sua prática de relações internacionais e de nem sempre estar à altura dos nobres princípios que alardeia. Ainda assim, o Ocidente faz mais pelos direitos humanos do que as potências não-ocidentais, como a China, a Rússia e as petromonarquias do Golfo, que norteiam as suas relações com os países em desenvolvimento por considerações estritamente pragmáticas e calculistas e não lhes impõem qualquer contrapartida na área dos direitos humanos – porque haveriam elas de querer cultivar no exterior algo que reprimem dentro de portas? – o que leva os governantes autocráticos a dar, amiúde, preferência a acordos com a China, a Rússia e as petromonarquias do Golfo.

“Freedom from fear” (1943), por Normam Rockwell, quadro da série “Quatro Liberdades”, inspirada no Discurso sobre o Estado da União proferido pelo presidente Franklin D. Roosevelt a 6 de Janeiro de 1941
A natureza marcadamente ocidental dos direitos humanos ditos “universais” raramente é reconhecida quer pelos que denunciam a civilização ocidental como sendo essencialmente iníqua, predadora e “satânica”, quer pelos que defendem que a civilização ocidental é um conceito artificial e vazio, criado para justificar o domínio das potências europeias sobre o resto do mundo.
Reexaminando o legado gregoO conceito mais consensual de civilização ocidental apresenta-a como herdeira da fusão dos valores da Grécia e Roma da Antiguidade Clássica com os valores do cristianismo, posteriormente reformulada pelo Iluminismo, marcada pela crença na razão, no capitalismo, no individualismo e na democracia. Mas quando se examinam estas componentes para lá da superfície, o que significam elas realmente?
Que valores da Grécia Clássica persistem na moderna civilização ocidental? Os de Esparta ou os de Atenas? É que são dois modelos de sociedade muito diferentes: a primeira belicista e filistina, adestrando os seus rapazes, desde tenra idade, para o combate, mediante rigorosíssima disciplina, governada por monarcas hereditários, valorizando mais o grupo do que o indivíduo; a segunda mais virada para o comércio marítimo e para as artes, letras, ciências e filosofia, governada por um sistema de democracia directa em que todos os cidadãos estavam no mesmo plano, privilegiando o indivíduo sobre o grupo. Se for Atenas o nosso modelo – e é em Atenas que a maioria pensa quando se fala da Grécia como berço da civilização ocidental –, de que Atenas falamos? A que nos legou a filosofia de Sócrates ou a que condenou Sócrates à morte por fazer perguntas incómodas?

“A morte de Sócrates” (1787), por Jacques-Louis David
Deve a democracia ateniense ser um modelo para nós, quando excluía da cidadania as mulheres e os estrangeiros e, ao contrário do que usualmente se pensa, não era uma democracia electiva (de natureza meritocrática), mas sim uma democracia por sorteio? Como conciliar as realizações intelectuais e artísticas da Grécia Clássica com o facto de o ócio e desafogo que as tornou possíveis assentar em incontáveis escravos, que executavam boa parte dos trabalhos pesados e sujos e das tarefas domésticas? Hoje, se se mencionar uma cultura em que a mulher quase não possui direitos jurídicos, está proibida de fazer transacções financeiras, está excluída do sistema educativo, da vida pública e dos círculos intelectuais e artísticos, está sujeita a uma obrigação de recato que tende, idealmente, para a invisibilidade total, tem a sua vida confinada às lides domésticas e tem como função primordial parir filhos e cuidar deles enquanto são crianças, logo se pensará numa sociedade diametralmente oposta à do Ocidente: o Afeganistão sob o jugo taliban. Porém, era este o estatuto da mulher em Atenas e noutras cidades-estado da Grécia Clássica.
Atendendo, para mais, a que 1) a identidade grega era um assunto de debate animado entre os gregos da Antiguidade Clássica (ver capítulo “O que significa ser grego?” em O que é que os gregos alguma vez fizeram por nós?) e que 2) a linha de continuidade entre os gregos antigos e os gregos modernos nem sempre é clara (ver capítulo “Tudo por causa de uns bocados de mármore” em O que é que os gregos alguma vez fizeram por nós?), só nos resta concluir que afirmar que a moderna civilização ocidental é herdeira dos valores da Grécia Clássica é uma simplificação grosseira.

“A selecção das crianças em Esparta” (1785), por Jean-Pierre Saint-Ours. Segundo o historiador Plutarco, na cidade-estado de Esparta todos os recém-nascidos eram apresentados à Gerousia, o concelho de anciãos, que triava os que eram demasiado débeis ou malformados e os enviava para a morte; a vigência desta prática eugénica em Esparta não foi, até hoje, comprovada, mas é indubitável que ocorreu em várias culturas espalhadas pelo mundo
A Roma Clássica é frequentemente enaltecida como inspiradora do sistema legal e de algumas das instituições políticas das modernas democracias do Ocidente, mas a República Romana, ainda que, durante certos períodos, tivesse atribuído algum poder decisório à plebe, era, na prática, uma oligarquia controlada por um restrito número de famílias abastadas; para mais, a governação foi tornando-se mais corrupta e ineficaz à medida que a dimensão territorial da República Romana crescia. Com o advento do Império, o Senado foi praticamente esvaziado de poder real, tornando-se numa mera correia de transmissão da vontade do imperador. Por isso, quando se celebram os valores da Roma Clássica de que valores falamos? Dos de Marco Aurélio ou dos de Calígula?

Busto de Calígula, c.37-41 d.C.
Dos de Lúcio Quíncio Cincinato, um paradigma de probidade, abnegação e serviço da causa pública, ou dos de Heliogábalo (Elogabalus), o imperador adolescente cujo comportamento foi tão ultrajante, vil e desregrado que gerou rejeição generalizada e levou ao seu assassinato pela Guarda Pretoriana, aos 18 anos? Dos de Lucrécia, a nobre romana do século VI a.C. que se suicidou para preservar a sua honra, ou dos de Agripina, esposa do imperador Cláudio e mãe de Nero, uma intriguista sem escrúpulos que não recuou perante infâmia alguma para fazer do seu filho um imperador-fantoche controlado por ela?
A Roma que inspira a moderna civilização ocidental é a que se afadigou a erguer notáveis obras benéficas para toda a comunidade, como aquedutos, termas e redes de estradas, ou a que promovia combates de gladiadores e massacres de feras em grande escala para gáudio das massas ávidas de sangue? A das virtudes da autodisciplina, coragem, temperança e justiça pregadas pelos pensadores estóicos ou a dos desmandos, vaidades, excessos e caprichos dos oligarcas fabulosamente ricos?
Reexaminando o legado cristãoA presença dos valores cristãos nas sociedades ocidentais é incomparavelmente mais imediata e omnipresente do que a da Grécia e Roma da Antiguidade Clássica, cuja influência se esbateu com o decorrer dos séculos – bastaria contar os lares no mundo ocidental que possuem uma Bíblia e aqueles que possuem pelo menos uma obra de Tucídides ou Cícero. Todavia, também os valores cristãos são muito menos consensuais do que usualmente se assume. A primeira questão que se põe quanto aos valores cristãos é: de que valores falamos, os do Antigo Testamento ou os do Novo Testamento? É que o Deus do primeiro é caprichoso, hipersusceptível, impiedoso, intolerante, rancoroso, ciumento e exige dos crentes devoção incondicional e cega (é significativo que os quatro primeiros dos dez mandamentos versem a exclusividade da devoção a Deus). O Deus do segundo é misericordioso e ama a humanidade ao ponto de enviar o seu filho à Terra para a resgatar através do seu martírio. Mesmo que se escolha ignorar esta clivagem nítida, se varram para debaixo do tapete as componentes bárbaras ou absurdas do Antigo Testamento, como a condenação à morte de quem ouse trabalhar no Sabbath (Êxodo 35:2), ou a interdição do consumo de marisco (Levítico 11:10), e se enraízem os valores cristãos no exemplo e nos ensinamentos de Jesus, é legítimo perguntar: Qual Jesus? O que irradiava amor, perdão e tolerância ou o que expulsou os vendilhões do templo? O que advogava que “a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra” (Mateus 5:39), ou o que anunciava “não vim trazer paz, mas a espada” (Mateus 10:34)?

“Cristo expulsando os cambistas do Templo”, por Theodoor Rombouts (1597-1637)
Não pode esperar-se resposta clara das altas instâncias eclesiásticas e dos teólogos, já que estas se encontram, desde os primórdios da cristandade, engalfinhadas em acerbas e intermináveis disputas internas e se acusam mutuamente de heresia. Quando falamos de valores cristãos referimo-nos aos da Igreja Católica e Apostólica Romana ou aos da Igreja Protestante? Tratando-se da segunda, falamos dos anabaptistas, dos adventistas, dos anglicanos, dos baptistas, dos congregacionistas, dos luteranos, dos metodistas, dos pentecostalistas ou dos presbiterianos? A escolha é vastíssima, mesmo excluindo a Igreja Ortodoxa (e as suas ramificações), que, na divisão civilizacional de Huntington (ver capítulo “O fim da história, o choque de civilizações e outros equívocos” em Civilização ocidental: Josephine Quinn desafia a visão tradicional da história?), é vinculada automaticamente à “civilização ortodoxa”, bem como os vários ramos orientais da cristandade (nomeadamente os que se separaram do tronco principal no ano 431) e ainda os incontáveis galhos secos, que, no escoar dos séculos, perderam todos os seus fiéis (quem, hoje, se reclama borborita, colutiano ou encratita?). Haverá quem alegue que as diferenças entre os múltiplos ramos do cristianismo dizem respeito a questões de pormenor, mas a verdade é que as divergências têm sido suficientemente relevantes para que os respectivos patriarcas se tenham excomungado mutuamente e os seus fiéis se tenham massacrado entusiasticamente, por vezes durante décadas anos a fio – como aconteceu na Europa Ocidental entre 1618 e 1648.
Quando alguém ou alguma entidade reivindica a defesa dos valores cristãos refere-se aos que mandam cuidar dos doentes, dar abrigo a quem não tem casa e ser caridoso com os pobres, ou aos que presidiram aos tribunais do Santo Ofício, às caças às bruxas, à repressão da investigação científica, à perseguição dos homossexuais e ao Index de livros proibidos?

“Galileo perante o Santo Ofício” (1847), por Joseph-Nicolas Robert-Fleury
Usualmente assume-se que foi o Iluminismo que mais contribuiu para definir a essência da moderna civilização ocidental: ao defender a igualdade de direitos de todos os homens, promoveu formas de governação democráticas; ao dar primazia à razão, dissipou as brumas da superstição; ao defender a liberdade de consciência de cada indivíduo, levou à separação entre Estado e Igreja; ao advogar o empirismo e o método científico, criou as bases para a ciência e tecnologia modernas. Todavia, basta um exame um pouco mais cuidado e também os filósofos iluministas se revelam francamente contraditórios e até censuráveis face aos padrões éticos consensuais no nosso tempo.
John Locke (1632-1704) insurgiu-se contra o absolutismo e defendeu que a legitimidade política decorre do consentimento dos cidadãos e que a função do Estado é regular – não coarctar – os direitos naturais do indivíduo. Porém, teve participações na Royal African Company, a empresa que mais escravos transportou na história do tráfico negreiro transatlântico, e contribuiu para a redacção da Constituição da colónia americana da Carolina, que conferia aos proprietários das plantações poderes absolutos sobre os seus escravos.
Thomas Jefferson (1743-1826) foi o responsável pelo trecho da Declaração de Independência dos EUA que proclama que “todos os homens são criados iguais”, mas esta noção de igualdade não abrangia os escravos que trabalhavam nas suas plantações.
Carl Linnaeus (1707-1778), naturalista e “pai” da taxonomia moderna, criou o sistema de catalogação dos seres vivos que ainda hoje usamos e atribuiu designação padronizada a 12.000 espécies de animais e plantas, entre as quais o Homo sapiens. Embora considerasse que todos os humanos pertenciam à mesma espécie, distinguiu, na 12.ª edição (1767) do seu pioneiro Systema naturae (1735), cinco “variedades” (quatro principais mais uma denominada Monstruosus), definidas não só por diferenças morfológicas, como por diferenças comportamentais e culturais: a variedade Americanus (os habitantes da América pré-colombiana) era teimosa, fervorosa, amante da liberdade e regida por hábitos; a variedade Europeanus era afável, perspicaz, inventiva e regida por costumes; a variedade Asiaticus era austera, orgulhosa, gananciosa e regida por crenças; a variedade Africanus era matreira, preguiçosa, desleixada e regida por caprichos.

Carl Linnaeus envergando um traje tradicional da Lapónia, região que visitou numa expedição em 1732. Retrato por Martin Hoffman, 1737
Buffon (Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, 1707-1788), o mais proeminente naturalista francês do século XVIII, legou-nos uma monumental Histoire naturelle em 36 volumes (mais oito volumes póstumos), que compila o conhecimento do seu tempo sobre as ciências da natureza. No capítulo “Variétés dans l’espèce humaine”, incluído num dos dois volumes consagrados à espécie humana, Buffon reconheceu que, apesar das apreciáveis diferenças em termos de morfologia, costumes e organização social, todos os grupos humanos pertencem à mesma espécie; no entanto, não colocava todas as “raças” no mesmo plano: os europeus eram “o povo mais belo e perfeito do mundo”, sendo as outras raças “degenerações” resultantes da exposição às condições naturais vigentes nas outras partes do planeta.

Buffon, retratado por François-Hubert Drouais, em 1753
Já Voltaire (1694-1778) entendia que as grandes diferenças registadas entre os seres humanos de diferentes geografias se explicavam por fazerem parte de espécies diferentes. E embora tenha denunciado a tirania, o fanatismo, a intolerância e, em particular, os excessos da escravatura e do domínio colonial, nunca se manifestou a favor da abolição da escravatura e manifestou orgulho nos empreendimentos coloniais franceses – no fundo, o que reprovava nos proprietários e capatazes que maltratavam os escravos era tal ser contraproducente do ponto de vista económico.
Robert Boyle (1627-1691), que se destacou como naturalista, físico, químico e teólogo e foi um dos pioneiros do método científico, dedicou algum do seu tempo ao estudo das raças e da cor da pele dos seres humanos. Boyle chegou a uma conclusão similar à de Buffon: todos os seres humanos pertenciam à mesma espécie e a forma “original” desta tinha a pele branca. No que respeita ao tratamento dispensado aos seres humanos de pele negra, assumiu posição similar à de Voltaire: pugnou por um tratamento mais humano dos escravos, sobretudo se estes se convertessem ao cristianismo, mas nunca pôs em causa a escravatura. As averiguações e conclusões de Boyle sobre raças humanas foram suficientemente ambíguas para que, mais tarde, os seus argumentos fossem apropriados e instrumentalizados por ideólogos racistas.
Boyle foi a figura de maior renome no grupo de naturalistas que, em meados do século XVII, se associou, informalmente, no Invisible College, entidade que daria origem, em 1660, à Royal Society of London for Improving Natural Knowledge (conhecida simplesmente como Royal Society), que se afirmou como farol da ciência e símbolo do Iluminismo e é a mais antiga academia de ciências do mundo. Porém, o inestimável contributo da Royal Society “no reconhecimento, promoção e apoio da excelência na ciência e no encorajamento do desenvolvimento e uso da ciência para benefício da humanidade” (é assim que ela própria descreve a sua missão) teve um lado menos luminoso: não só a sociedade era, em parte financiada pelos dividendos das acções que detinha na já mencionada Royal African Company (também ela fundada em 1660), como alguns dos membros da Royal Society faziam também parte do conselho de administração da RAC.

Robert Boyle, retratado por Johann Kerseboom, em 1690
Esta lista de “pecados” dos grandes vultos do Iluminismo, que poderia prolongar-se indefinidamente, não tem por propósito demonstrar que a civilização ocidental é intrinsecamente racista, colonialista, extractivista e opressora, uma vez que tal equivaleria a julgar o passado pelos critérios morais do presente – uma atitude anacrónica e sobranceira, que, no século XXI, se tornou dominante nalguns meios intelectuais e nas faixas mais à esquerda do espectro político (ver capítulo “A civilização ocidental como flagelo planetário” em Civilização ocidental: A Sociedade Internacional para a Supressão da Selvajaria). O facto de muitos pensadores, obras literárias, instituições, sistemas de crenças e movimentos intelectuais pretéritos a que se atribui um papel fulcral na construção da civilização ocidental entrarem frequentemente em conflito com os valores perfilhados no século XXI pela civilização ocidental coloca em relevo duas características essenciais desta que não costumam ser devidamente enaltecidas: o seu carácter dinâmico e a sua capacidade de auto-análise e autocorrecção.
Estas duas características, aliadas à sua insaciável curiosidade por outras culturas, fazem com que a civilização ocidental tenha vindo a evoluir constantemente, incorporando na sua matriz elementos colhidos noutras culturas e descartando elementos antigos, que deixaram de fazer sentido à luz da presente configuração civilizacional. Sim, a moderna civilização ocidental pode ter incorporado elementos da Grécia e da Roma da Antiguidade Clássica, do cristianismo e do Iluminismo, mas todos eles passaram por demorados processos de filtração e destilação, que resultaram na eliminação ou atenuação das componentes tóxicas – como sejam a extrema misoginia de Atenas, o imperialismo belicista de Roma, a intolerância do cristianismo, o “racismo estrutural” (como se diria hoje) da maioria dos pensadores iluministas.

Moisés com os Dez Mandamentos. Quadro de autor holandês anónimo, c.1600-24
É precisamente por estar consciente das suas imperfeições e enviesamentos que a civilização ocidental é um conceito em permanente actualização – e é esta pulsão que faz com que as ideias dominantes e consensuais (até entre as elites mais sagazes e bem informadas) há cerca de um século, sobre o estatuto da mulher, a homossexualidade, o papel da religião na sociedade, o colonialismo, as diferenças entre grupos étnicos e os direitos das minorias sejam hoje vistas como inaceitáveis e tenha sido elaborada legislação destinada a suprimi-las ou reprimi-las. É certo que na civilizadíssima e indubitavelmente ocidental Suíça as mulheres só conquistaram o direito de voto nas eleições federais em 1971 e foi preciso esperar até 1990 para que este direito se estendesse às eleições cantonais em Appenzell-Innerrhoden, mas, apesar dos atrasos, das falhas e da hipocrisia, a civilização ocidental tem evoluído, genericamente, no sentido positivo.
As outras civilizações também assimilam elementos provenientes do exterior e também evoluem, mas fazem-no a uma velocidade mais lenta do que o Ocidente e tendem a ser mais abertas a inovações nas áreas da tecnologia e do consumo do que no plano da governação, da organização da sociedade e dos direitos humanos – como se viu na China nos últimas três décadas. O caso mais evidente de “cristalização civilizacional” é o mundo islâmico, que passou por longos períodos de estagnação, em muitos domínios – como se escreveu no capítulo “Está tudo no Corão”, em A Idade de Ouro da ciência árabe pt.3: Um longo sono, “a vida quotidiana de muitos habitantes do Dar al-Islam pouco mudaria entre o início do Califado Omíada de Damasco, na segunda metade do século VII, e a dissolução do Império Otomano, no início do século XX”. Decorrido mais um século, há regiões do mundo islâmico – como o Afeganistão dos taliban ou os territórios sob o controlo do Daesh (ou de alguma das suas franchises) – onde os módicos progressos realizados no campo dos direitos humanos ao longo de séculos foram revertidos e todos os seus habitantes estão obrigados ao cumprimento estrito de leis, preceitos e usos datados do início do século VII. Mesmo nas feéricas, prósperas e futuristas metrópoles que desabrocharam nas margens do Golfo Pérsico a vida continua a ser tolhida por imposições dogmáticas e mundividências arcaicas, a democracia não passa de uma camada de verniz que é incapaz de disfarçar a natureza aristocrática ou teocrática da governação e os “direitos humanos universais” não passam de uma miragem.

Aplicação da sharia (lei islâmica) no mundo islâmico: a verde, sem aplicação; a amarelo, aplica-se apenas a assuntos de família (casamentos, divórcios, heranças, custódia de menores, etc.); a púrpura, aplicação plena; a laranja, aplicação com variações regionais dentro do país
A civilização ocidental está longe de ser perfeita, mas é para ela que têm convergido os fluxos migratórios globais nas últimas décadas, apesar das barreiras que os países ocidentais têm erguido; dos perigos que a viagem comporta (só no Mar Mediterrâneo, perecem todos os anos 2000 a 3000 migrantes); apesar do risco de serem maltratados, espoliados ou mortos por traficantes; de, chegados ao destino, serem amontoados em acampamentos precários, insalubres e inseguros, ou recambiados para a sua origem; apesar das dificuldades em arranjar emprego e alojamento numa terra cuja língua e costumes desconhecem. Não é possível encontrar argumento mais eloquente contra quem vê o Ocidente como uma abominação, uma síntese das piores inclinações da humanidade.
Curiosamente, a grande maioria dos críticos da civilização ocidental vive nela e desfruta da segurança, prosperidade e liberdade que ela providencia – e muitos até gozam de um nível de vida acima da média dos seus concidadãos – e, embora nada impeça a sua partida, não se mudam para Teerão, Havana, Pyongyang, Port-au-Prince, Mogadishu, Caracas, Kinshasa ou Phnom Penh. Na verdade, muitos desses críticos nasceram no chamado “Sul Global” e instalaram-se no Ocidente por sua livre escolha ou fugindo à miséria e à opressão dos seus países natais e, mesmo estando convictos de que vivem no Império do Mal, não consideram a possibilidade de regressarem aos países de origem, excepto (eventualmente) para visitar familiares ou em turismo.
Nos regimes onde existe liberdade de expressão, cada um é livre de difundir as suas opiniões, por muito ácidas e disruptivas que sejam, mas, para que elas mereçam credibilidade, é imperativo que estejam em consonância com as opções de vida que se tomam.
Próximo artigo da série: Civilização Ocidental: O Grande Cisma de 2025 d.C.
observador