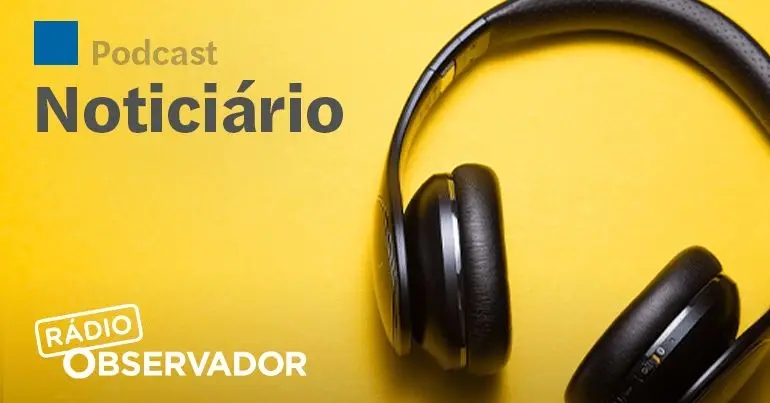Maio e a tristeza de Marcial
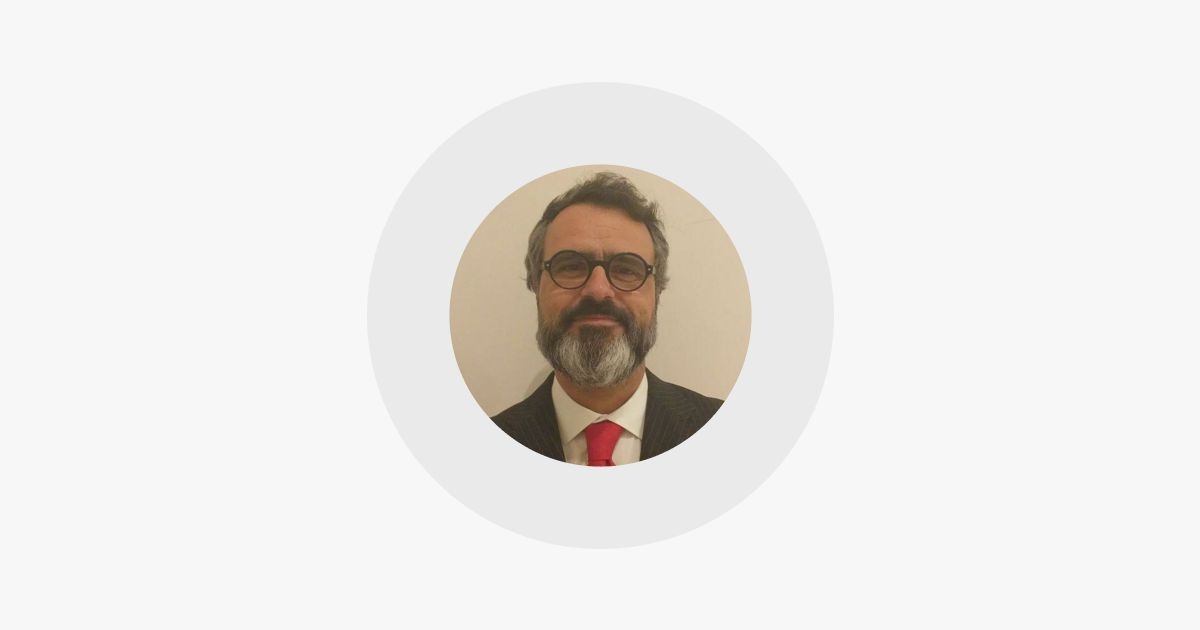
Quando chega, a tristeza faz um barulho semelhante ao daquelas nuvens que de repente cobrem um dia de sol: absolutamente nenhum. Quem ouviu já o som de uma nuvem a passar? Não se dá por nada e, de repente, sem que nos apercebamos, damos por nós na penumbra. Quando estamos tristes, a alma torna-se nublada e escura; é luz que subitamente se extingue, como o filamento de uma lâmpada que, sem qualquer ruído, rebenta.
Nasceu em 39 ou 40 d.C., numa pequena cidade da Tarraconense, Bilbilis, nas margens do Salo. Em 64, partiu para Roma. Por lá permaneceu por trinta e quatro anos. Durante muito tempo, viveu num terceiro piso do Quirinal. Depois – no fim dos seus dias – adquiriu uma pequena casa nas proximidades (perto do templo de Flora). Possuía também, muito antes disso, uma pequena quinta cercada por campos e vinhedos, perto de Nomentum, com telhas pouco fiáveis e que produzia um pouquito de vinho medíocre.
Viajou pouco. Apenas a capital o cativava. Ler poemas, tomar banhos tépidos, frequentar os «grupos» – os círculos, as livrarias, as reuniões de académicos e poetas, os banquetes –, conversar sob os pórticos, responder à salutatio eram os seus entreténs. Nunca se casou.
No ano em que chegou a Roma, viu metade da cidade em chamas. Assistiu à morte de Séneca, à construção da Domus Aurea, à morte de Nero, às revoluções que entregaram o império a Galba, Otão, Vitélio e aos fabianos. A todos saudou.
Ao “pior”, cobriu de elogios. Foi cliente de todos os protectores que pagassem. Elogiou delatores. Gostava daqueles que, nos jogos, fossem mais cruéis. Nem Silius Italicus, nem Regulus, nem Atedius Melior, nem Arruntius Stella o cobriram de ouro. Deles, não obteve nada mais do que a espórtula matinal. Lamentou, chorou a época de Augusto e a memória do seu ministro Mecenas. Virou-se para o imperador. Bajulou Domiciano. Foi amigo íntimo de Juvenal. Teve certa amizade com Plínio, o Jovem. Não foi amigo de Tácito.
Tinha barba espessa, cabelos lisos, uma voz forte e profunda, e a Hispania transpirava em cada poro do seu corpo. Não escreveu como costumavam naquele tempo; pelo contrário: apaixonado pela precisão, pelo laconismo, procurava a expressão mais adequada e mais simples, o episódio mais surpreendente, o mais seco. Desprezou a poesia do seu tempo — a declamatio e a mitologia. Comparada com literatura do século I, a sua obra é a mais singular que se pode imaginar. Contrasta não apenas pela precisão do seu vocabulário, pelo ódio à eloquência e à imagem, mas também pela firmeza e virulência da expressão. Uma espécie de classicismo a fazer-se barroco à força de pureza.
Demétrio – um jovem escravo propriedade sua – copiava cuidadosamente os epigramas que havia composto e oferecia-os àqueles de quem era protegido. Foi graças à sua pena que o significado da palavra epigrama sofreu a sua fundamental metamorfose. De «poesia breve» tornou-se sinónimo de «chiste agudo e mordaz». Ao especializar o seu sentido, especializou a sua forma. Cena nítida e viva, agressivamente obcecada com a «punch line», o «soco»; em latim, o aculeus, o acumen, o mucro.
Da mesma forma, foi graças à sua pena que a poesia se tornou uma forma — por mais erudita e sábia que fosse — de irrisão. O carácter tão singular desta arte concretizou-se na brutalidade da língua, numa expulsão sonora, num escarro sonoro, numa procura de palavras robustas, grosseiras, contrastantes, na brusquidão, na minúcia, no brilho das cenas mais vivas, na criação do objecto mais recolhido, na expressão mais recolhida – a vida em Roma capturada num livro. No livro X: «Hominem pagina nostra sapit», «A minha escrita tem o gosto do que é humano». É por isso que os académicos jamais deixarão de estudá-lo: o especialista em fósforos enxofrados, o especialista em cristais de vidro, o apaixonado por objetos arquetípicos, os vendedores de ervilhas cozidas e de salsichas fumegantes.
Publicava as suas compilações de epigramas em formato volumen. Quintus Pollius Valerianus, Secundus, Atrectus, Tryphon editaram os seus livros. Atrectus era dono de uma imponente loja perto do fórum de César, em cuja fachada estavam expostos os nomes dos autores mais prestigiados da época. Vendia obras luxuosas cujas capas eram cuidadosamente polidas com pedra-pomes e realçadas a púrpura. Tryphon vendia Xenia a dois sestércios quando Atrectus colocara à venda um livro de epigramas por quatro dinares. Conheceu o êxito. Foi lido nas margens do Danúbio, nas margens do Reno, na Bretanha. Todas as cidades dos gauleses o liam.
Em Nomentum, observava a álea de buxo, as romãs no jardim, o pequeno muro. A amargura não diminuía. A dependência, a escravidão dos padrões romanos, de si mesmo, das leituras feitas, do desejo de escrever, do assédio dos ruídos, das horas, das desilusões, das memórias, dos amigos, pesavam na alma até ao desgosto. O próprio isolamento, o sentimento de pobreza, a vaidade de tudo, resultavam mais evidentes.
Em 88, pensou em deixar Roma. Pensou viver em Ravena, na Aquileia, em Altium. Retirar-se. Com a chegada de Nerva, com a adoção de Trajano, teve de partir. Regressou à Hispania.
Plínio, o Jovem, pagou-lhe a viagem. Regressou a Bilbilis feliz. No início, agradava-lhe imenso não acordar antes das nove, não ter de vestir a toga e aquecer-se com lenha de carvalho. A viúva Marcela doou-lhe uma propriedade maior e uma renda mais vantajosa do que as que obtinha de Nomentum. Doou-lhe um pequeno bosque, um jardim de rosas, um lago fechado, um alvo pombal.
Em 98, estava em Bilbilis e sentia falta de Roma. Em 98, escrevia a Terêncio Prisco: «Se há algo agradável nos meus livros, foi o leitor que mo ditou [dictavit auditor]. Sinto falta dos ouvidos da capital. Sinto falta daquelas reuniões em que se fica tão satisfeito que não se percebe quão úteis são…» No último livro que escreveu, enumerou minuciosamente as compensações que Roma oferecia ao escritor, muito para lá do desprezo que lhe manifestava e da vida dificilmente suportável que o obrigava a levar. Oferecia um auditório, amigos, elogios, bons livros, inimigos, discussões, maus livros, a aspereza da linguagem, o gosto por estar informado, as obras estrangeiras, o refinamento e a prontidão do pensamento e, sobretudo, os prazeres das grandes cidades: a solidão, o anonimato, os círculos de leitura, a mortificação, as bibliotecas, os teatros. «Todas estas grandes vantagens que equivocadamente – escrevia ele a Terentius Priscus – me desgostaram quando poderia tê-las gozado, não posso passar sem elas agora que as perdi.»
Em latim, tristitia era o nome de um dia chuvoso: tristis era a designação do céu quando escurece. Mas também de um fruto que se arrancou cedo demais à árvore, “amargo”. Um damasco que parece delicioso, mas que magoa por causa do seu sabor pungente e imaturo.
Desejava morrer em Roma. Nem a fortuna, nem a idade, nem o tempo lho permitiram. Permaneceu na cidade onde nascera. Passou o século (se era acaso possível que tivesse passado o que ele não sabia ser o século II d.C.). Continuou a envelhecer ali, passou dos sessenta. Uma carta de Plínio a um amigo, do outro lado dos séculos, continua a anunciar-nos a sua morte. Chamava-se Marcus Valerius Martialis, e morreu num dia de Maio como o de hoje, escolhendo palavras não no dicionário do dizer, mas no do silêncio.
observador