A parede e os seus pedreiros
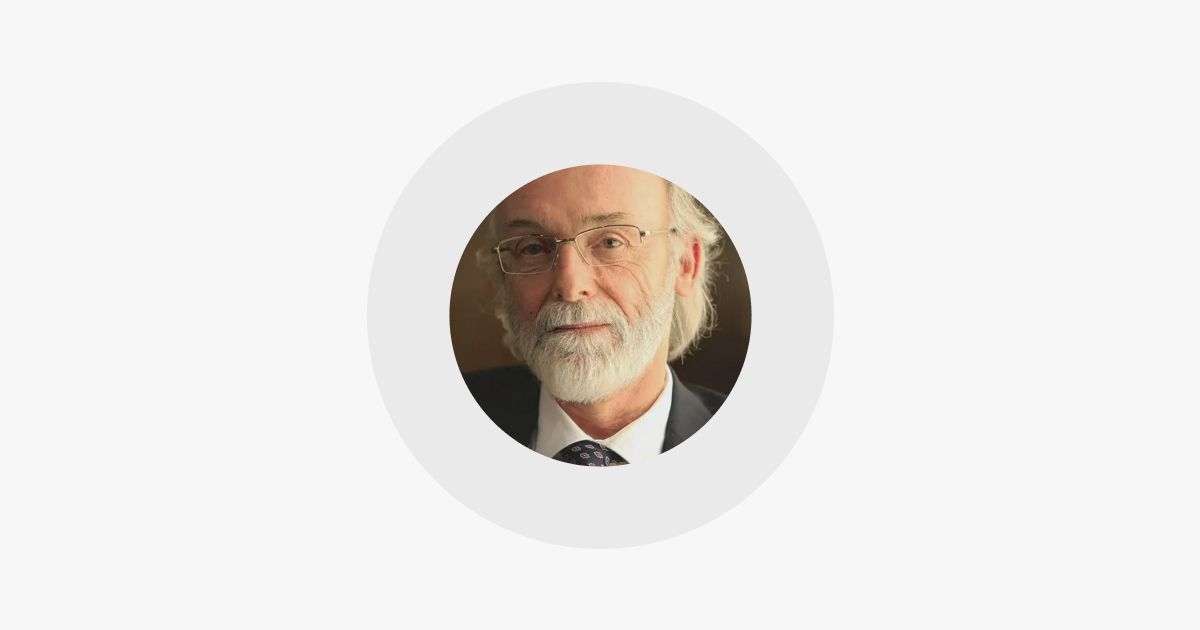
Estreou recentemente em Lisboa um documentário que tem por objecto o cemitério ou depósito de cadáveres de escravos negros em Lagos. Trata-se de Contos do Esquecimento e Dulce Fernandes, a sua realizadora, falando ao Expresso, censurou-nos a todos da seguinte forma: “Continuamos a não conseguir falar sobre o papel de Portugal no tráfico transatlântico, cuja escala, duração e consequências são tão violentas e profundas quanto são omitidas da nossa memória colectiva”. É a conhecida e falsa tese do silêncio ou do tabu que segundo muita gente de esquerda existiriam na nossa sociedade e contra os quais, na sua fantasia, os intrépidos e esclarecidos woke teriam sido chamados a combater. Ora, é verdadeiramente incrível que ao fim de oito anos e meio de debate público sobre esse tema, período no qual se publicaram dezenas de livros e entrevistas, e se escreveram centenas de artigos em jornais e revistas de ampla circulação, ainda haja gente que tenha a lata de afirmar que os portugueses não conseguem falar sobre o seu papel no tráfico negreiro e que o país continua a varrer esse assunto para debaixo dos tapetes da sua memória colectiva. Estas afirmações da realizadora são ainda mais inacreditáveis quando nos damos conta de que, em vez de ter sido escondido ou arquivado no segredo dos deuses, o início do tráfico de escravos negros para Portugal foi relatado em grande detalhe, logo na época em que aconteceu, por Gomes Eanes de Zurara na Crónica de Guiné.
Mas não são apenas as declarações de Dulce Fernandes que surpreendem no artigo do Expresso. Efectivamente, uma outra senhora, Vicky M. Oelze, da Universidade da Califórnia, que está a estudar as ossadas dos africanos enterrados naquele local de Lagos, considerou que “o comércio português de escravos foi maciço e muito maior em número do que o tráfico humano em que qualquer outra nação se envolveu”. Ou seja, estamos perante uma nova manifestação da tese da gigantesca dimensão da maldade portuguesa, tese que visa acentuar a culpabilidade do nosso país e na qual muitas instituições e investigadores norte-americanos — julgo que a realizadora Dulce Fernandes também vive ou viveu nos Estados Unidos — insistem há anos, apesar de ser uma tese errada ou grotescamente exagerada. É que Portugal foi, de facto, politicamente responsável pelo transporte de 4,5 milhões de escravos africanos para as Américas. Foi, portanto, o maior transportador através do Atlântico. Mas os britânicos, que começaram a fazer esse tráfico depois dos portugueses, transportaram 3,4 milhões de escravos negros, o que não é uma diferença assim tão abissal. O mais importante, porém, é que outras entidades políticas e nações traficaram escravos em números equivalentes ou superiores. O tráfico de escravos no Império Romano foi de, pelo menos, 100 milhões de pessoas. Por isso, afirmar, como faz a investigadora da Universidade da Califórnia, que o tráfico de escravos português foi “muito maior em número do que o tráfico humano em que qualquer outra nação se envolveu” é má-fé ou distracção.
Como se estes erros já não bastassem, Christiana Martins, a jornalista do Expresso que assina o artigo, afirmou que “os primeiros escravizados africanos a chegarem ao continente europeu desembarcaram em Lagos em 1444”. Trata-se de um erro que à semelhança do que já fora feito por Lídia Jorge no discurso de 10 de Junho visa colocar Portugal no triste papel de pioneiro — ou, se se preferir, de pioneiro europeu — na escravização dos africanos. Mas não é verdade que assim seja. Deixemos de lado o erro da data — os primeiros escravos africanos chegaram a Portugal em 1441 — e foquemo-nos na relação da Europa com a escravatura negra para sublinhar que se bem que fossem uma relativa raridade, já havia escravos negros em Roma e noutras cidades da parte europeia do Império Romano. Importa lembrar igualmente que os povos muçulmanos (árabes e berberes) que, no século VIII, conquistaram grande parte da Península Ibérica e outras regiões da Europa, como as ilhas de Creta e da Sicília, tendo mantido essas possessões durante séculos, possuíam alguns escravos negros, que lhes chegavam através do deserto do Sara e do Norte de África. Ou seja, não foram os portugueses que trouxeram os primeiros escravos africanos para a Europa. Na verdade, alguns deles chegaram à Europa muito antes de os portugueses terem chegado a África. O que os portugueses fizeram, isso sim, foi abrir um novo canal que, contornando por mar a grande massa do deserto, permitiu alcançar regiões de África pouco ou nada batidas pelo comércio de escravos que os comerciantes muçulmanos há muito aí faziam.
Aqui chegados, e corrigidos os erros, o que importa sublinhar é que estes três exemplos nos colocam de novo perante uma corrente de opinião que consciente ou inconscientemente tende, por erro, exagero ou deformação, a acentuar a culpabilidade dos portugueses na história da escravatura. Segundo essa corrente de opinião Portugal teria sido, no passado, o mais pecador de todos os pecadores, e, no presente, culpado por supostamente querer esconder ou silenciar esse seu pecado. Essa corrente de opinião erigiu uma espécie de parede defensiva e obstina-se em repetir o mesmo discurso e em não tomar conhecimento do saber histórico. Por muito que se expliquem e corrijam os seus enganos o conhecimento histórico não penetra porque a parede, sendo essencialmente feita de ideologia e emoção, rejeita-o. O problema, porém, não se resume à rejeição nem à parede. Há, a montante delas, uma questão mais importante que tem a ver com a forma como esta ideologia se produz e reproduz. Dito de outra forma, é um trabalho de Sísifo demolir a parede, ou abrir rombos nela, porque há um batalhão de pedreiros permanentemente empenhados em repará-la e em mantê-la de pé.
Muitos desses pedreiros são professores e isso conduz-nos ao ensino da História — aqui considerado de forma abrangente, desde a escola básica à universidade — e à forma como a exactidão deixou de ser prioritaria para muitos dos que têm a tarefa de ensinar. Esses a que me refiro aceitaram abrir mão do rigor histórico em favor de narrativas falsas ou fantasiosas, mas capazes de servir as chamadas boas causas e de corresponder ao objectivo político de dar espaço e destaque aos que, no passado, foram vencidos, conquistados, explorados, escravizados. É por isso que no Reino Unido os professores de História são aconselhados a dizer aos seus alunos que os vikings não eram todos brancos e que foram negros que construíram Stonehenge.
Aqui em Portugal também há quem defenda essa martelagem da História ou quem não se oponha a ela. Vou dar-vos um exemplo que se passou comigo. Há cerca de um mês foi a apresentação de Haiti, o meu mais recente romance histórico, e uma das pessoas que simpaticamente compareceu e assistiu ao seu lançamento foi uma colega historiadora de esquerda que lecciona já há largos anos numa universidade de Lisboa. Durante a apresentação expliquei que esse meu romance era, também, uma peça de um combate pela verdade histórica, combate que já travo há muito tempo e que me parece ser cada vez mais necessário tendo em conta as duas aberrações britânicas que referi acima e muitas outras do mesmo teor. Na intervenção que fez, após eu ter falado, essa minha colega, afirmou, para espanto de quem a ouviu, que ensinar essas mentiras aos alunos não era assim tão importante ou grave. Dito de outro modo — e agora são palavras e interpretações minhas —, deixou implícito que podia torcer-se um pouco a verdade histórica desde que fosse por uma causa nobre.
Trata-se de uma absoluta perversão já que a História lida justamente com a verdade documentada, ou seja, é conhecimento através de documentos e não de teorias, ideologias ou objectivos políticos. A História não é uma alavanca para mudar o mundo nem é algo que possamos pintar da cor que politicamente nos agrada ou nos convém. Mas voltarei a esta importante questão do ensino da História no meu próximo artigo, no qual me debruçarei sobre um pequeno incidente entre um senhor africano e o deputado André Ventura durante uma acção de pré-campanha eleitoral no Cacém.
observador





