Fui diagnosticado com câncer incurável. Este tratamento futurista pode me salvar.

No outono de 2003, escorreguei no gelo ao sair do escritório uma noite. Meu quadril doeu por um ano depois, mas ignorei a situação. Como a dor não passou, consultei meu médico, que pediu uma ressonância magnética. Fui ao consultório dele e ele me disse que havia um tumor no meu quadril. Eu tinha 38 anos, buscava uma carreira promissora no jornalismo, era casado com uma mulher que eu amava e pai de primeira viagem de uma menina de sete meses.
Na época em que fui diagnosticado com o tipo de câncer que descobri que tenho, uma forma rara e incurável de câncer no sangue chamado mieloma múltiplo, disseram-me que eu tinha dezoito meses de vida. Isso foi há mais de vinte e um anos.
Nesses vinte e um anos, passei por uma série de tratamentos para combater minha doença. Eles incluem quatro rodadas de radioterapia (no quadril, pescoço, costelas e nariz); um curso de seis meses de imunoterapia intravenosa semanal (seguido por sete anos de um nível de manutenção dessa terapia tomado em forma de comprimido); outra rodada de dois anos de imunoterapia envolvendo as versões de última geração dos medicamentos anteriores que eu estava tomando, em forma de comprimido; uma terceira rodada de imunoterapia envolvendo dois novos medicamentos de imunoterapia administrados semanalmente por via intravenosa por mais dois anos; e seis anos (e contando) de infusões intravenosas mensais de um agente usado para fortalecer meu sistema imunológico, que foi comprometido tanto pela minha doença quanto pelos tratamentos usados para combatê-la. Mas o tratamento mais notável que já fiz até agora é um procedimento de ponta, aprovado pelo FDA para uso em casos como o meu apenas em 2022, chamado terapia CAR-T. Esta é a história desse tratamento.
Desta vez, não escorreguei no gelo. Inclinei-me para colocar a louça na máquina de lavar louça e senti uma pontada nas costas. Era fevereiro de 2023. Meu oncologista, Dr. Sundar Jagannath, do Hospital Mount Sinai, em Nova York, pediu uma série de exames de sangue e tomografias. Eles mostraram que eu havia saído da remissão novamente, pela sétima vez. Eu tinha tumores no quadril, nas costelas e na coluna torácica e lombar.
Em um dia incongruentemente lindo de março, minha esposa, Didi, e eu nos encontramos com o Dr. Jagannath. Ele explicou que minha melhor opção de tratamento era um tipo de imunoterapia praticamente novo, de ponta e quase alucinantemente futurista, chamado terapia CAR-T. Seria o tratamento mais poderoso e perigoso que eu já havia recebido até então.
A terapia CAR-T envolve a coleta de células T da corrente sanguínea e o envio delas para um laboratório onde uma proteína chamada receptor de antígeno quimérico, ou CAR, é adicionada à superfície das células T (daí a sigla "CAR-T"). A proteína CAR ajuda as células T a reconhecer antígenos encontrados na superfície de células cancerígenas específicas, no meu caso, células de mieloma, para que as células T possam atingir e matar as células malignas. As células T carregadas com CAR são então infundidas de volta ao seu corpo por via intravenosa para realizar seu trabalho.

Quando comecei o CAR-T, minha esposa, Didi, e eu tínhamos dezenas de perguntas.
CAR-T é uma terapia única; requer poucos cuidados de manutenção contínuos, explicou ele. Se funcionasse, eu poderia voltar a viver uma vida relativamente normal, pelo menos por um tempo, com pouca ou nenhuma terapia de manutenção necessária.
Naturalmente, havia ressalvas. A CAR-T não é de forma alguma 100% eficaz, requer meses de preparação, alguns deles complexos e desagradáveis, e tem uma série de efeitos colaterais potencialmente debilitantes e, às vezes, fatais.
A definição científica de "quimera" — a palavra-chave em receptor de antígeno quimérico — é uma parte do corpo composta por tecidos de material genético diverso, mas o termo tem dois outros significados. Um é um monstro imaginário composto de partes incongruentes. O outro é uma ilusão, mais especificamente um sonho irrealizável. Ambos pareciam adequados.
Como a CAR-T é uma terapia complexa e altamente especializada, o Dr. Jagannath me encaminhou para um especialista em CAR-T para gerenciar meu tratamento. Didi e eu tivemos nossa primeira consulta com o Dr. Shambavi Richard algumas semanas depois.
Dra. Richard, uma mulher indo-americana de longos cabelos negros que adora óculos estilosos, equilibra um jeito amigável e tranquilo com profunda experiência profissional.
A preparação para o CAR-T, explicou ela, era de fato complexa. No meu caso, incluiria dezenas de exames de sangue; uma biópsia óssea e uma biópsia de medula óssea; um procedimento para coletar minhas células T; possivelmente mais radiação se os tumores em meus ossos se tornassem problemáticos antes de eu receber meu CAR-T (leva cerca de um mês após a coleta das células T para que as células turbinadas sejam fabricadas); uma internação hospitalar de quatro dias para administrar um regime de quimioterapia conhecido como DCEP, que visa reduzir o número de células de mieloma no corpo para tornar o tratamento com CAR-T mais eficaz; três dias de um tratamento ambulatorial chamado linfodepleção, outra forma de quimioterapia, que mata as células T existentes para ajudar as células T bioengenheiradas a atacar as células de mieloma com mais eficácia; e a colocação de um cateter no meu peito que seria usado para infundir as células CAR-T, administrar medicamentos relacionados e coletar sangue para monitorar minha contagem sanguínea durante a internação hospitalar de duas semanas necessária para a infusão de CAR-T.
Os dois efeitos colaterais mais graves da terapia CAR-T, ela nos contou, são a síndrome de liberação de citocinas e a neurotoxicidade. A síndrome de liberação de citocinas, ou SRC, ocorre quando o sistema imunológico do corpo responde de forma muito agressiva a uma infecção. No caso da terapia CAR-T, o corpo parece confundir as células modificadas por bioengenharia com uma infecção, desencadeando a resposta indesejada. Os sintomas da SRC incluem febre e calafrios ("tremores e assaduras", como alguns médicos chamam), fadiga, diarreia, náuseas e vômitos, dores de cabeça, tosse e pressão arterial baixa. Se não for tratada rapidamente, a condição pode ser fatal.
Neurotoxicidade é um termo amplo para um conjunto de sintomas neurológicos que podem incluir dores de cabeça, confusão, delírio, fala arrastada ou incoerente, convulsões e edema cerebral, ou inchaço do cérebro. Também pode ser fatal se não for tratada imediatamente.
A terapia CAR-T também deixa os pacientes gravemente imunocomprometidos e vulneráveis a infecções por meses e, às vezes, anos. Ela destrói seus sistemas imunológicos tão completamente que eles eventualmente precisam tomar todas as vacinas da infância (caxumba, sarampo, rubéola, etc.), sem mencionar as vacinas contra COVID e gripe, novamente. Até que tomem essas vacinas, o que não pode ser feito antes de pelo menos seis meses após a CAR-T, eles estão suscetíveis a todas essas doenças e muito mais. Durante minhas internações, eu teria permissão para receber apenas um número limitado de visitantes, e todos teriam que usar máscara. Depois que eu voltasse para casa, teria que viver com mais cautela do que antes, como todos nós fazíamos nos primeiros dias da COVID.

Fui diagnosticado com mieloma aos 38 anos, quando era pai de primeira viagem.
Didi e eu tínhamos dezenas de perguntas. Espera aí, como funciona o CAR-T mesmo? A coleta de células T causaria o mesmo formigamento que a minha coleta de células-tronco causou? Eu conseguiria ir ao casamento da minha sobrinha em Cape Cod em agosto?
Além de ser uma médica de primeira linha, a Dra. Richard é uma ouvinte de primeira. Ela respondeu pacientemente a todas as nossas perguntas, disse que seu consultório agendaria as consultas necessárias e nos encaminhou para o consultório.
Didi e eu pegamos um táxi para casa. Enquanto descíamos a Quinta Avenida, nos sentíamos estranhamente otimistas. Ação é melhor do que inação. E eu ia ser biônico.
Fiz os exames de sangue. Fiz as biópsias. Fiz a coleta de células T. Acabei não precisando de radiação.
Em preparação para a perda de cabelo durante as duas sessões de quimioterapia, cortei o cabelo rente ao rosto. Parecia-me que perder mechas curtas seria menos traumático do que perder fios longos. Quando meu barbeiro comentou que era uma escolha drástica para mim, menti e disse que queria me refrescar durante o verão. Então, na quinta-feira, 11 de maio, me hospedei no Mount Sinai para começar meu tratamento de quatro dias com DCEP.
"DCEP" é uma sigla para "Dexametasona, Ciclofosfamida, Etoposídeo e Cisplatina", os quatro medicamentos que compõem o regime. Eles são administrados por via intravenosa. Às quatro horas daquela tarde, eu estava acomodado no meu quarto no décimo primeiro andar do hospital e conectado a um suporte de soro.
Como o DCEP precisa ser administrado continuamente, fiquei conectado à minha intravenosa 24 horas por dia. Já usei muitos dispositivos intravenosos e estou aqui para dizer que as bombas eletrônicas usadas para administrá-los apresentam falhas. O mais irritante é que os alarmes com os quais os dispositivos estão equipados, que deveriam disparar apenas quando há um problema com o fluxo da medicação, frequentemente disparam sem motivo. Toda vez que isso acontece, uma enfermeira precisa vir, verificar se está tudo bem e reiniciar a bomba. Quando você usa uma bomba 24 horas por dia, isso pode ser enlouquecedor. Certamente não é propício para dormir.
Depois de quatro dias no hospital, eu estava mais do que ansioso para ir para casa. Fisicamente, eu me sentia bem. Felizmente, tolerei o DCEP com quase nenhum efeito colateral. Mas me sentia exausto por não dormir muito e emocionalmente esgotado.
Logo depois do jantar, no meu quarto dia, recebi alta.
Na manhã seguinte, depois que meu filho Oscar foi para a escola, sentei-me no sofá da sala de estar. Didi estava na mesa de jantar, trabalhando em seu laptop.
“Sabe o que é legal?” Eu disse.
Desde o momento em que saí para o hospital até aquele momento, não me senti particularmente assustado ou chateado. Na maior parte do tempo, durante as noventa e seis horas que passei no Monte Sinai, apenas abaixei a cabeça e fiz o que precisava.
Comecei a responder à minha própria pergunta. O que eu pretendia dizer era: "Dormir na sua própria cama". Mas, antes que eu pudesse terminar a frase, todas as emoções que eu aparentemente havia reprimido nos quatro dias anteriores no hospital, ou talvez nos dezenove anos anteriores, vieram à tona.

Apesar do tratamento bem-sucedido, continuo com medo de deixar meu filho, Oscar, e minha filha, AJ, sem pai.
Sou uma pessoa relativamente estoica. Não me deixo abater facilmente pelos meus problemas. Nem tenho muita vontade de falar sobre eles.
Bem, o câncer transforma estoicos em mentirosos. Assim como ataca seu corpo, ataca suas defesas emocionais e não para até despojá-lo delas. Você quer lutar por dezenove anos? Tudo bem. O câncer é paciente. O câncer espera. Ele ri da sua perseverança. Zomba da sua teimosia. Ele se diverte com a sua coragem. Eventualmente, ele o destruirá. Você pode entrar no câncer como um estoico, mas não sairá como um.
Comecei a chorar. Chorando, na verdade. Um lamento profundo, primitivo e feio. Foi a primeira vez que chorei tanto desde que recebi o diagnóstico. Contrariando meus instintos estoicos, chorar não me fez sentir fraca ou envergonhada. Me fez sentir aliviada. Foi como se dezenove anos de peso tivessem sido tirados dos meus ombros.
"Senti tanta falta de vocês", consegui dizer para Didi, entre soluços. "Estou tão feliz por estar em casa."
Já me perguntaram se tenho medo de morrer. A resposta é não, na verdade não. Tendo sido forçado a pensar muito sobre o assunto, cheguei a um acordo. Na minha opinião, morte é morte. Não há céu nem inferno. Apenas comida de minhoca. Nada. Por que eu deveria ter medo de nada?
O que eu tenho medo é do sofrimento. Já vi o sofrimento de perto, em consultórios de oncologistas, em centros de tratamento e em enfermarias de oncologia. É decididamente assustador.
Durante meus tratamentos de radiação, vi pacientes com queimaduras na pele tão graves que pareciam vítimas de incêndio criminoso. Durante minhas sessões de tratamento, vi um senhor urinar nas calças na cadeira enquanto dormia; uma mulher desmaiar a caminho do banheiro, abrir a cabeça e sangrar por todo o chão; e vasos sanitários cobertos de respingos de diarreia. Durante minhas internações, vi pacientes calvos, emaciados e tão pálidos quanto os cobertores brancos do hospital em que estavam enrolados para se aquecer. Ouvi gemidos, gritos e sons que, francamente, não sei como descrever. Alas de oncologia já foram chamadas de casas do horror. Gostaria de poder contestar essa caracterização.
Também ainda tenho medo de deixar Oscar e minha filha, AJ, sem pai. Não porque eu não ache que eles ficarão bem. Tenho uma fé inabalável neles. Mas se há algo intrínseco aos pais da espécie humana, é o de prover o sustento de seus filhos. Não conseguir fazer isso, mesmo que essa incapacidade esteja além do meu controle, seria, para mim, um fracasso imperdoável.
Eu também gostaria de ver AJ e Oscar crescerem, começarem suas carreiras, se casarem e terem filhos, se quiserem. Gostaria de passar minha aposentadoria com Didi, escrever mais, pescar mais, jogar mais pôquer e viajar mais com a família e os amigos.
Não tenho medo de estar morto. Tenho medo de não estar vivo.
O DCEP deveria ser um leão. Fisicamente, pelo menos, era um cordeiro. A linfodepleção deveria ser um cordeiro. Descobriu-se que tinha uma mordida.
Meus tratamentos estavam agendados para quinta, sexta e sábado. Domingo foi deixado como dia de descanso. Na segunda-feira, eu daria entrada no hospital para fazer meu CAR-T.
Assim como a DCEP, a linfodepleção é administrada por via intravenosa, mas em regime ambulatorial. Após a primeira infusão, me senti bem. Após a segunda, me senti péssimo. Após a terceira, me senti tão mal quanto qualquer outro tratamento contra o câncer que já fiz. Senti náuseas, tontura e tão fraco que mal conseguia beber um copo d'água ou sair da cama. Tive que me arrastar de quatro para ir ao banheiro.
Para o bem ou para o mal, os humanos tendem a considerar uma cabeça cheia de cabelo como um sinal de boa saúde e a perda de cabelo como um sinal revelador de câncer. Eu sempre tive um bom cabelo. Como adulta, tendi a usá-lo comprido em cima e curto nas laterais, com uma mecha pendurada sobre a testa. Didi o chama de meu cacho do Superman.
Embora meu cabelo tivesse começado a cair um pouco durante o DCEP, agora caiu completamente. Quando tomei banho, a espuma do xampu em minhas mãos estava salpicada com milhares de pedacinhos de barba por fazer preta e grisalha.
Aquilo foi mais perturbador do que eu imaginava. Minha tentativa de evitar esse sentimento cortando o cabelo à escovinha não funcionou — para algumas coisas você não consegue se preparar. Depois de quase vinte anos, eu finalmente havia experimentado talvez o efeito colateral mais familiar do câncer. Perder o cabelo era um sinal inconfundível e inegável da minha doença, e doía. O cacho do Superman tinha sumido.
Após meu tratamento final de linfodepleção, peguei um táxi do hospital para casa. Era sábado, 24 de junho de 2023, véspera da Parada do Orgulho de Nova York, e como várias ruas principais já estavam bloqueadas, o trânsito estava congestionado. Uma viagem que normalmente levaria 45 minutos já havia durado bem mais de uma hora, e eu ainda tinha mais de 20 quarteirões pela frente.
Enquanto caminhávamos lentamente pela Park Avenue Sul, uma picape parou ao lado do meu táxi. Era uma Ford F-150 vermelha com placas de Nova Jersey. O motorista e o passageiro do banco da frente eram jovens de vinte e poucos anos, vestindo camisetas sem mangas e bonés de beisebol. Bon Jovi tocava alto nos alto-falantes. Se fossem personagens de um filme, você os teria descartado por serem muito clichês.

Para me preparar para a perda de cabelo durante as duas rodadas de quimioterapia, cortei meu cabelo bem rente.
Como acontece quando se está no meio de um processo de debilitação do sistema imunológico em preparação para um tratamento futurista contra o câncer, eu estava de máscara no banco de trás do táxi e com o vidro da janela abaixado. O motorista da picape, que agora estava a poucos metros de mim na faixa à minha direita, também estava com o vidro da janela aberto. Antes mesmo que ele falasse, eu já sabia o que ele ia dizer.
A citação exata foi: "Cara, tira a máscara". Seu parceiro riu.
Na minha família, gostamos de contar uma história sobre o meu pai. Quando eu tinha uns cinco anos, nós seis — meu pai, minha mãe, meus três irmãos e eu — estávamos esquiando no interior do estado de Nova York. Era um dia particularmente cheio e havia uma longa fila para um dos teleféricos.
Quando um grupo de adolescentes tentou pular para a frente, meu pai, que era uma pessoa notoriamente gentil, mas também alguém que acreditava em regras, os chamou.
"Desculpe, pessoal", disse ele. "Estamos todos esperando aqui há muito tempo. Vocês têm que ir para o fim da fila."
As crianças o ignoraram.
“Pessoal, vão para trás.”
Nada.
"Pessoal …"
E então: “Foda-se, velho.”
Foi isso. Algo dentro do meu pai, normalmente gentil, estalou. Ele tirou as botas dos esquis, caminhou até as crianças e agarrou o líder do grupo pelas lapelas do casaco.
"Vá para os fundos", disse ele. "Agora!"
E eles foram para trás.
De volta à Park Avenue South, canalizei meu Gene Gluck interior.
Saí do táxi (o trânsito já estava parado) e caminhei até o motorista da caminhonete.
Meu solilóquio no meio da rua foi mais ou menos assim: “Sou um paciente com câncer, seu babaca. Estou voltando para casa depois de uma consulta de quimioterapia. Na segunda-feira, vou para o hospital para duas semanas de um tratamento que pode me matar. Estou usando máscara porque meu sistema imunológico não funciona. Vai se foder.”
Em termos de potência da minha performance, não foi ruim que, graças ao DCEP e à linfodepleção, eu não só tivesse perdido a maior parte do meu cabelo, mas também estivesse magro e com aparência pálida.
Para ser justo, no segundo em que saí do táxi, o motorista pareceu perceber o que estava acontecendo e, quando confirmei sua suspeita, ele pareceu genuinamente arrependido.
"Desculpa, cara", disse ele. "Foi culpa minha."
Voltei para o táxi e ele e seu companheiro viraram à direita na próxima rua transversal, suspeito que para não ter que andar lentamente ao meu lado por mais tempo.
Normalmente não acredito em usar a carta do câncer. Na maioria das situações, é uma ferramenta poderosa demais para o trabalho, além de manipuladora. Mas naquele dia, abri uma exceção.
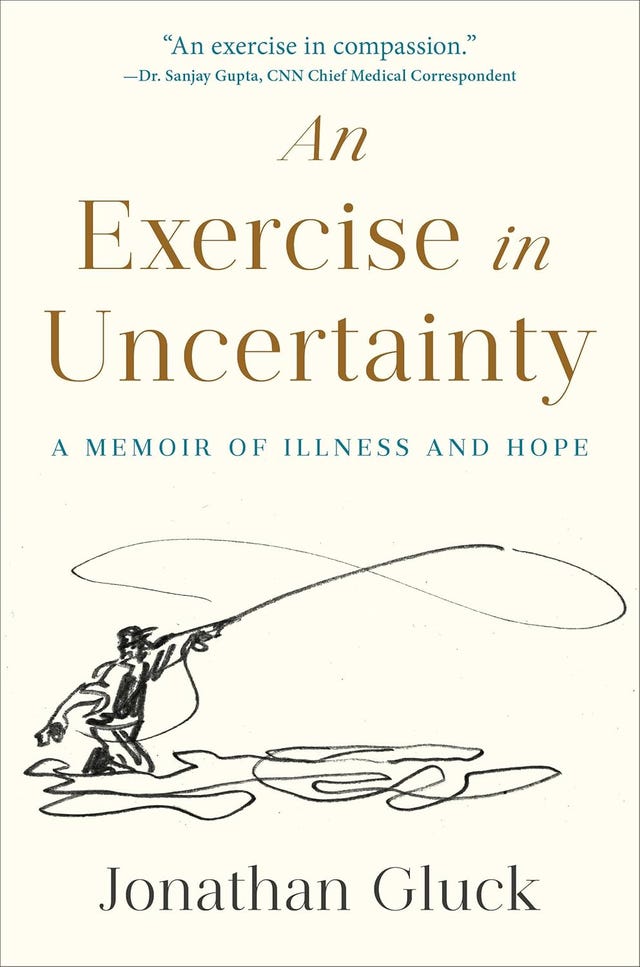
Na segunda-feira, 26 de junho, fiz check-in novamente no Mount Sinai, desta vez para receber meu tratamento CAR-T. Os médicos e enfermeiros explicaram a Didi e a mim que a infusão em si seria indolor e levaria apenas cerca de meia hora.
Depois disso, eles me monitorariam cuidadosamente — primeiro a cada quinze minutos, depois a cada meia hora, depois a cada hora e várias vezes ao dia depois disso — em busca de sintomas de SRC e neurotoxicidade durante minha internação de duas semanas no hospital.
O monitoramento da SRC envolveria exames de sangue e verificações de temperatura e pressão arterial. O rastreamento de neurotoxicidade envolveria perguntas como se eu sabia meu nome, que dia era, em que cidade eu estava, e assim por diante, além de testes de caligrafia para monitorar minhas habilidades motoras.
Como nos haviam dito antes, eu teria permissão para receber apenas um número limitado de visitantes, e todos eram obrigados a usar máscara. Cheguei munido de dois romances, três livros de palavras cruzadas e minhas assinaturas da Netflix, Hulu e Peacock. Meus irmãos e irmãs me enviaram uma foto nossa de um casamento em família para guardar ao lado da minha cama.
Eu planejava trabalhar enquanto estivesse no hospital. A Dra. Richard apoiou. "Isso me ajudaria a distrair a mente", disse ela. Para evitar que as reuniões do Zoom fossem assustadoras, eu manteria minha câmera desligada ou personalizaria meu plano de fundo com algo que não fosse um quarto de hospital.
Quando chegou a hora, uma das enfermeiras trouxe um suporte de soro com a bolsa contendo minhas células CAR-T pendurada. O líquido na bolsa era incolor e, em geral, normal, como água. Lembro-me de me perguntar como algo tão extraordinário podia parecer tão comum.
Em seguida, a enfermeira pegou o tubo plástico que saía da bolsa e o conectou ao cateter que havia sido colocado no meu peito mais cedo naquele dia. Observei as primeiras gotas penderem da válvula no fundo da bolsa intravenosa, depois se soltarem e descerem pelo tubo até as minhas veias.
Didi estava sentada ao lado da minha cama, na cadeira de visitas.
"Certo, células", disse ela. "Funcionando."
Nos primeiros dias de internação, me senti bem. Não que eu estivesse me divertindo muito nem nada. As verificações de temperatura, pressão arterial, coletas de sangue e testes de função cognitiva eram incessantes.
“Você está com alguma dor?”
"Não."
“Vou medir sua pressão arterial agora.”
"OK."
“E agora sua temperatura.”
"Claro."
E assim por diante.
Já fui picado com agulhas centenas de vezes. Estou acostumado. Mas ser acordado todas as noites à meia-noite e às 3 da manhã para ser injetado era novidade para mim.
Tomar banho era um dilema. Por causa do cateter, eu não podia tomar um banho comum, pois poderia desenvolver uma infecção, mas, devido à minha imunidade comprometida, eu precisava manter minha pele limpa para evitar infecções. A solução prescrita foi um tipo especial de lenços umedecidos desinfetantes, seguros para uso diário na pele. Posso dizer que eles são um substituto ruim para o chuveiro.
Para os testes cognitivos, um dos médicos ou enfermeiros me pedia para escrever "minha frase", uma cópia de uma frase que me pediram para escrever no primeiro dia como base para que pudessem monitorar minhas habilidades motoras finas. Minha frase era: "Hoje tomei café da manhã, assisti TV, li um livro e dei uma volta pelo corredor". Shakespeare!
Então um médico ou enfermeiro me fazia uma série de perguntas.
"Qual o seu nome?"
“Jonathan Gluck.”
"Onde você está?"
“Hospital Monte Sinai”.
“Em que cidade?”
"Nova Iorque."
"Quantos anos você tem?"
“Cinquenta e oito.”
“O que é isso?” [Apontando para a televisão.]
“Uma televisão.”
Etc.
Por fim, eles me pediam para levantar a mão direita, tocar o nariz com o dedo, ou algo assim.
No terceiro ou quarto dia, quando uma das enfermeiras me pediu para levantar a mão, não o fiz imediatamente.
Ela fez uma pausa.
“Você está bem, Jonathan?” ela perguntou.
“Você não disse, 'Simon diz'”, eu disse.
Para que conste, ela riu.
O tédio era outro problema.
Para passar o tempo, assisti à segunda temporada de The Bear. (Excelente). Li dois livros escritos por antigos colegas ( Bad Summer People , de Emma Rosenblum, e The Eden Test , de Adam Sternbergh). Terminei três compilações de palavras cruzadas do New York Times (meu jogo de palavras cruzadas nunca foi tão bom). E assisti literalmente a cada minuto do Tour de France, mais de oitenta horas de corrida de bicicleta televisionada. (Confira a emocionante vitória de Jonas Vingegaard no contra-relógio da Etapa 16, na qual ele desfere um golpe decisivo em seu antigo rival Tadej Pogačar, no YouTube.) Como assistir a esportes na TV sempre foi uma espécie de Prozac para mim, assisti a algumas dezenas de partidas de Wimbledon (feliz por Carlos Alcaraz, triste por Ons Jabeur), ao torneio de golfe feminino do US Open (parabéns à primeira vencedora de um major, Allisen Corpuz) e uma dose noturna de jogos dos Yankees e Mets (todos igualmente e agradavelmente chatos) para completar. Quanto à questão de se assisti a um torneio de cornhole na ESPN, eu imploro a quinta opção. (Vai, Jamie Graham!)
Se você está sentindo um tema de escapismo, não está errado. Durante minha internação para o tratamento DCEP, li Endurance , o relato de Alfred Lansing sobre a malfadada expedição de Shackleton. Achei que a história épica de sobrevivência poderia me inspirar (pelo menos eu não estava preso em um bloco de gelo da Antártida comendo gordura de foca para sobreviver), e até certo ponto inspirou. Mas também talvez fosse um pouco intenso demais. Minha própria saga, decidi, já era angustiante o suficiente.
Vou poupá-los das minhas reclamações sobre a comida do hospital. Na verdade, não vou. Mas vou limitá-las ao café. O café era horrível. Medonho. Indiscutivelmente maligno. Na verdade, hesito em dignificá-lo chamando-o de café. Era Nescafé instantâneo, daqueles que eles embalam naqueles pacotinhos finos para parecerem europeus, despejados em um copo de isopor cheio de água morna. Sabe aquelas pocinhas que se formam na beira da estrada depois de uma tempestade, aquelas com manchas de óleo coloridas na superfície? O café não tinha aquele gosto; tinha um gosto pior. Você já se esqueceu de trocar o filtro de água embaixo da pia da cozinha por três anos, até que o filtro ficasse tão saturado de sujeira e bactérias que pudesse ser considerado um local do Superfund? Imagine torcer aquele filtro e beber o produto residual. Depois, leve em conta o fato de que o café tinha um gosto dez vezes pior.
Vamos colocar desta forma. No quarto dia, comecei a ir escondido ao Starbucks no saguão do hospital, apesar do risco de infecção que isso representava, para tomar minha dose de cafeína. Em outras palavras, o café do hospital era tão ruim que arrisquei minha vida para não tomá-lo.
O lado bom é que, como eu estava gravemente imunocomprometida, me deram um quarto individual. Isso significava que eu tinha muitas horas para mim. Didi me confidenciou que às vezes gosta de viajar a negócios porque ficar sozinha em um quarto de hotel lhe oferece uma rara fuga das exigências que tenho comigo, com as crianças, com os gatos e com tudo o mais. É um tempo precioso sozinha. Esse pensamento pode ou não ter me passado pela cabeça.
Certa manhã, quando eu estava voltando para o meu quarto depois de tomar um café no saguão, me deparei com um post-it amarelo colocado ao lado dos botões para cima e para baixo de um elevador.
Dizia: "Todo dia na Terra é um Bom Dia! Beijos."
À pessoa que escreveu aquela nota, eu digo: “Amém”.
O dia da alta foi terça-feira, 11 de julho. Fiz uma última consulta ("Você está com dor?"), meu cateter foi removido e eu estava livre para ir embora.
Didi tinha trazido uma bolsa cheia de maquiagem, esmalte e cremes faciais como presente de agradecimento para a equipe de enfermagem. Deixamos com a enfermeira-chefe e fomos direto para as saídas, como dizem nos programas de TV do hospital, imediatamente .
A caminho dos elevadores, encontrei uma mulher que chamarei de Bárbara. Bárbara era uma paciente com TCAR e uma das assistentes do corredor. Esqueça isso. Ela era a assistente do corredor. Ela estava lá todos os dias, marchando de um lado para o outro, por uma hora ou mais, a um ritmo pelo menos o triplo do de qualquer um de nós. Ela tinha talvez 65 anos e tinha um ar forte e calmo. Parecia dizer: "Estou ciente do seu poder, câncer. Mas sinto muito, você não vai me derrotar."
Era óbvio que eu estava indo embora; eu tinha minha mala comigo.
Anteriormente, Barbara e eu havíamos conversado algumas vezes e trocado algumas amenidades. Mas naquele momento, não precisávamos falar. Nos entendíamos perfeitamente, quase telepaticamente. O que cada um de nós dizia ao outro era: "Desculpe. Eu entendo. Boa sorte."
Adaptado de An Exercise in Uncertainty , Harmony Books 2025
esquire




