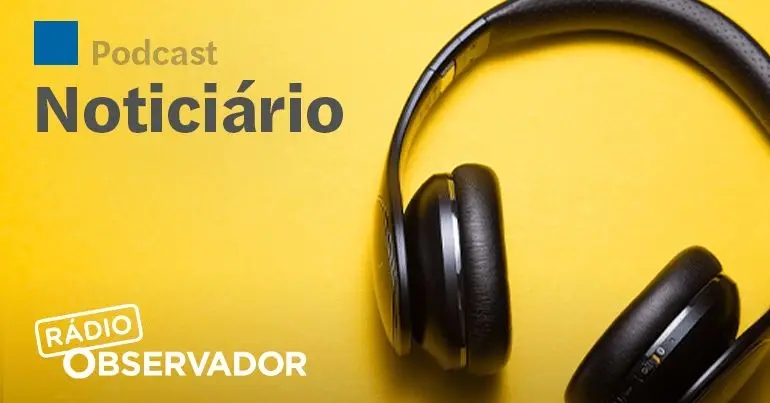Filipe Guerra. Um tradutor de ouvido sempre no chão

Sabemos pouco da história interior, da transformação das formas de consciência de uma civilização. Mas é sem dúvida nesse sedimento que fica no idioma, no modo como culturas e épocas diversas exploram diferentemente a linguagem, que podemos recolher sinais das relações estabelecidas entre a palavra e o objeto, o sentido e a profundidade a que isso nos fica, como pedra branca no fundo do poço, impregnando a consciência que fazemos do mundo, e do nosso lugar nele. Entre o balouçar clássico da frase e a sua conveniência mundana, é como se a literatura se ficasse pelo chão, sustentando-o de restos, migalhas que acabam por semear-se, criar raízes e devolver-nos estranhas formas nos rastos mais e menos cruzados. Assim, a morte de Filipe Guerra não extingue um nome: desarticula um sistema de escuta. Foi desfiado por um cancro, com um labor mimético daquele que é próprio de um tradutor. A morte acabou o trabalho no passado domingo, 6 de julho, numa cama do Garcia de Orta, em Almada.
O que com ele se perde, além de uma esmagadora erudição, colhida tantas vezes segundo as necessidades de investigação que lhe impunham as obras monumentais que foi traduzindo, é uma colaboração que, ao longo de três décadas, originou uma das metodologias de tradução mais seguras que se firmaram no nosso espaço literário. Ele e a mulher, Nina Guerra, assinaram em conjunto as traduções diretamente do russo de cerca de 70 obras. Desde os gigantes da tradição romanesca, como Tolstói, Dostoiévski e Turguénev, passando pelo mestre absoluto da forma breve, Tchékhov, e recuando aos românticos, como Aleksandr Púchkin e Mikhail Lérmontov, que marcaram os alvores da modernidade russa. E ainda Gogol, Ivan Búnin, Andrei Béli, Bulgákov e Stanislávski, entre outros. E é preciso focar especialmente as antologias de poetas como Óssip Mandelstam, Anna Akhmátova, Marina Tsvetáeva. Tudo isso nos foi transmitindo os pedaços de um mapa clamoroso daquele país-continente, cuja área imensa que ocupa no globo assume plena expressão nos radicais contrastes da sua literatura, com esses vultos como pedras cuja alvura e peso definem os pontos de articulação daquela região infinita pelas tantas dobras e os extremos que a sua história interior nos oferece. «A escrita arde negra como o sangue», diz-nos o poeta e tradutor húngaro István Bella, num poema que dedica a Mandelstam, e em que assume a sua voz: «Eu não tanjo a lira, mas a corrente;/ Como correntes chocalham as minhas cordas vocais,/ ou como as estrelas lá em cima,/ mundos forrados de ferro a gravitar,/ terras agrilhoadas,/ como o meu coração. (…) E ensino novas palavras/ e árvores cantantes à fala humana,/ ensino as aves ao céu…».
Filipe António Guerra nasceu em 1948, em Vila Pouca de Aguiar. Formou-se em Filologia Românica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e prosseguiu estudos em Linguística na Université Paris VIII (Vincennes). Em 1975 integrou a direção da Cooperativa Livreira Esteiros, e, entre 1979 e 1982, concebeu e realizou programas radiofónicos sobre livros para a RDP1 e Antena 2. Colaborou regularmente com jornais e revistas literárias, muitas vezes sob pseudónimo. Entre 1986 e 1989, trabalhou como revisor e tradutor literário na Editorial Progresso, em Moscovo. Foi aí que conheceu Nina, com quem viria a construir uma das mais importantes parcerias da tradução literária em português. Regressado a Portugal, trabalhou até 1991 na Editorial Caminho, onde assumiu funções editoriais, de revisão e tradução. A partir de 1994 dedicou-se exclusivamente à tradução literária a partir do russo, e ainda que tenha assinado cerca de 40 títulos individualmente, e até de outras línguas, como o francês, o espanhol e o italiano, é o legado conjunto do casal que irá marcar de forma duradoura a receção da literatura russa em língua portuguesa.
O que fizeram juntos não pode ser reduzido à eficiência ou ao acerto lexical. Traduziram como se montassem um dispositivo crítico: Nina trazia o texto russo até à página branca, com literalidade meticulosa; Filipe desmontava o que era intransmissível e procurava formas equivalentes no português, não por transposição, mas por assédio. Revezavam-se. Voltavam ao início. Liame após liame, frase após frase, com o original sempre presente – não como fetiche, mas como testemunha. O resultado: Dostoiévski sem depurações nem excessos folclóricos, Tolstói sem demasiado perfume, Tchékhov depois de raspado o anedótico.
Pela sua parte, e da forma mais discreta, Filipe Guerra também escrevia contos, e deixou alguns dispersos, sendo que, segundo o seu amigo Rui Manuel Amaral, na altura em que a morte o colheu, estava a organizar uma recolha antológica. Num desses contos escrito há uns vinte anos, tinha esta nota: «Eu morria. Morrer é incómodo, até desagradável. Gravam-nos o nome numa zona intermédia (entre a Praia das Maçãs e o Cassiopeia Bar), em bom destaque, aureolado de luzinhas, mas quem o lê? Acho que só o morto./ Noutra noite ressuscitava. Não é agradável. Regressamos, abrimos os braços, tomamos o pequeno-almoço na pastelaria, queremos falar mas a voz não sai da garganta, como nos sonhos. Passamos despercebidos».
Jornal Sol