Os emotivos (em Lagos ou em qualquer outra parte)
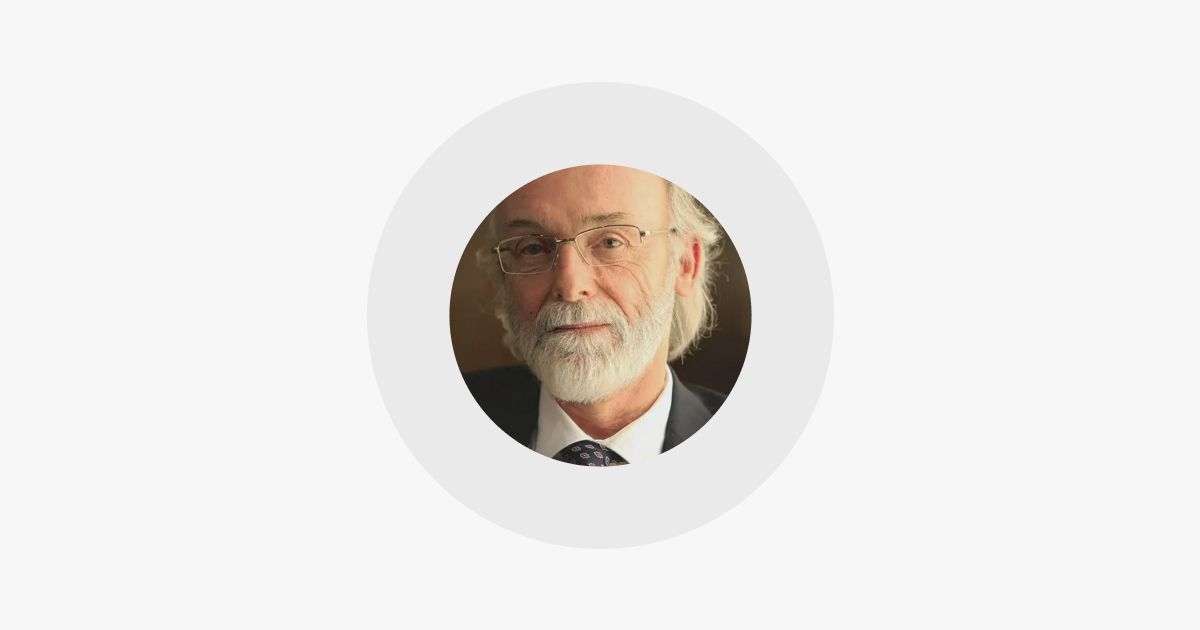
Terminei o meu último artigo (“Lagos de Descobertas”) com a promessa de que voltaria ao assunto das prioridades e da importância relativa da escravatura e das navegações de descobrimento dos portugueses. É claro que para um historiador ambas são importantes, tudo dependendo dos seus interesses e das investigações que tem em curso. Mas como é — ou deveria ser — para os políticos, autarcas incluídos, e para o cidadão comum? Escravatura ou Descobrimentos? Deverá ser dado à escravatura um lugar de destaque nas memórias da nossa sociedade, no ensino nas nossas escolas básicas e secundárias, e no nosso espaço público, incluindo na monumentalidade? Deverá ser-lhe dado um destaque tão grande que ultrapasse e ofusque o que tem sido habitualmente dado não apenas aos Descobrimentos, mas também aos vultos ou às realizações, heroísmos e grandezas daqueles que a linguagem do século XIX designava por “os nossos maiores”?
Os woke tendem a considerar que sim, isto é, que o foco posto na escravatura deve ser tanto ou mais luminoso e intenso do que é posto nos Descobrimentos e nos seus obreiros, e, pior do que isso, determinam ou concluem que a escravatura tinge, macula, de forma indelével e sem remissão, todo o grande acontecimento a que chamamos expansão ultramarina e colonial dos portugueses (e de outros europeus). E porque é que consideram isso? Basicamente por duas razões: em primeiro lugar pela dor e a injustiça que a escravatura transatlântica implicou, e que é absolutamente inegável; em segundo lugar, pela hiper-emotividade de muitas almas sensíveis que a observam e a julgam a partir já não das circunstâncias e práticas do tempo, mas sim das comodidades, das igualdades e das declarações dos direitos humanos do presente. Se a primeira motivação é compreensível, a segunda, isto é, o presentismo e a emotividade, é totalmente inadequada. Trata-se, aliás, frequentemente, de uma emotividade telescópica que é maior do que a revelada face a muitas injustiças do presente e do que a que foi sentida pelos que, no século XIX, em terra e no mar, combateram contra a escravatura e lhe puseram termo, o que mede bem a dimensão do disparate.
Esse disparate é muito visível na ideologia woke. Os exemplos são às centenas, mas recorro aqui ao último de que tive conhecimento. Há dias, sendo entrevistado no Expresso, o realizador Manuel Pureza, após ter elogiado um livro de Grada Kilomba, considerando-o “uma bíblia para quem quer desmontar as construções da língua e passar a dizer pessoas escravizadas em vez de escravos”, assumiu que gostaria que se ensinasse essa terminologia às crianças e manifestou o desejo de que se transmitisse não só a elas, mas a todos nós “que a (nossa) História não foram Descobrimentos, foi outra coisa”. O entrevistador, Bernardo Mendonça, intervindo, então, e querendo ajudar à festa, lançou para o ar a palavra de ordem de um artista brasileiro — “não foi Descobrimentos, foi matança” — e Manuel Pureza concordou com ela.
Matança, pergunto eu? A sério? Matança como, por exemplo, as conquistas de Gengis Khan, de Tamerlão ou da extensa lista de abomináveis matadores de que o passado está feito? O nível de desconhecimento que as pessoas têm de uma coisa que se chama história comparada nunca deixa de me surpreender. Não vou tentar contrariar as firmes convicções do realizador Manuel Pureza, que poderá informar-se por si só, se quiser. Aqui quero apenas sublinhar que este senhor, como muitos outros da sua corrente ideológica, pretende que seja dito às pessoas e ensinado nas nossas escolas que os Descobrimentos foram uma matança.
É claro que uma entrevista é pouco para avaliar alguém, mas não é de excluir que Manuel Pureza seja um emotivo — muitos woke são-no —, que põe o que tem que ver com a escravatura, a conquista militar, o colonialismo, fora dos seus respectivos contextos e de qualquer proporcionalidade razoável. Mas nessa sua eventual posição Manuel Pureza tem muitos antecessores. Já há décadas que encontramos no nosso país aquilo que, nesta área e para além da emotividade, caracteriza o wokismo: a desmesura, a desproporção. Em 1981, por exemplo, referindo-se a uma coleira imposta a um escravo, coleira que estava no agora chamado Museu Nacional de Arqueologia, em Belém, e sobre a qual já escrevi, disse José Saramago o seguinte no seu livro Viagem a Portugal: “(a coleira) andou no pescoço dum homem (um escravo preto), chupou-lhe o suor, e talvez algum sangue, de chibata que devia ir ao lombo e errou o caminho”. A coleira é “a prova de um grande crime”. Por isso “se é preciso dar-lhe um preço, vale milhões e milhões de contos, tanto como os Jerónimos aqui ao lado, a Torre de Belém, o palácio do presidente, os coches por junto e atacado, provavelmente toda a cidade de Lisboa”.
Este exagero visa explicitar a indignação, a execração perante a escravidão dos negros, e tem obviamente uma carga e uma mensagem moral. Trata-se de um discurso hiperbólico que fica muito bem numa página de literatura, na mensagem de um pregador ou de um activista, mas as sociedades humanas não se regem nem se governam segundo essa bitola emotiva e moralizante, e a História também não. Isto quer dizer que, em bom rigor, no mundo real, a coleira do escravo não tem tanta importância como, por exemplo, Lisboa. Aliás, nem sequer no estrito campo das emoções o tem, pois há e havia em Lisboa, milhares de dramas equivalentes ou ainda mais impressionantes. E não é preciso saber muita História para estar ciente disso, ou pelo menos para o intuir. Uma vez que estamos no campo da literatura bastará lembrar a toda a gente que leu esse extraordinário romance de Victor Hugo que é Notre-Dame de Paris, o que podiam ser as desgraças, os abusos e as injustiças numa cidade europeia no século XV, aproximadamente na época em que as primeiras levas de escravos africanos chegavam a Lagos.
Saramago fez uma hipérbole para fins morais. O problema é que os woke tomam essas coisas à letra, pois na sua marcada ignorância supõem que a avaliação moral, sobretudo se for de condenação, deve prevalecer e lançar o seu manto julgador e justiceiro sobre a História. Mas não é assim e é por isso que para o cidadão português comum o cemitério com restos mortais de africanos trazidos para Portugal no século XV, em Lagos, não deve ter a mesma importância nem relevância que têm os Descobrimentos. Aliás, abra-se aqui um parêntesis para dizer que a esquerda woke é especialista em fazer uma gritaria em torno de pouca coisa. Much ado about nothing, como dizia William Shakespeare. Em torno do cemitério de Lagos há todo um estardalhaço montado, fazem-se filmes, escrevem-se artigos, estruturam-se projectos de investigação. Constou, até, que o Presidente da República terá sugerido a Lídia Jorge que, no seu discurso do dia 10 de Junho, abordasse esse assunto. Mas, pergunto eu, desvendou-se algum segredo, algo que ninguém sabia ou que os portugueses andassem há séculos a esconder? Nada disso. A chegada de escravos africanos a Lagos, e a sua vida nessa terra, está narrada em assinalável detalhe nos capítulos XXIII a XXVI da Crónica de Guiné, uma obra do século XV cujo manuscrito, encontrado em 1837, em Paris, e, depois, publicado, está desde essa época ao alcance de quem queira lê-la.
Ao contrário do que se diz ou tenta fazer crer, não há verdades maliciosamente escondidas nem coisas varridas para debaixo do tapete da nossa memória colectiva. A escravatura de gente africana foi parte integrante da expansão ultramarina dos portugueses. É incontestável que foi uma parte violenta, sombria, injusta, muitas vezes cruel, da expansão ultramarina dos povos europeus, na qual Portugal teve um iniludível papel, sendo politicamente responsável pelo transporte transatlântico de 4,5 milhões de escravos negros — e não de 6 milhões como a esquerda woke e os seus académicos querem fazer-nos crer. Dito isto é importante perceber e sublinhar que a escravatura é uma parte e não o todo da expansão ultramarina e que ela não resume nem simboliza essa expansão. As coisas têm a dimensão e a importância relativa que têm. Nem mais nem menos. Entre 1963 e 1971 o historiador Vitorino Magalhães Godinho publicou Os Descobrimentos e a Economia Mundial, uma grande obra historiográfica, uma daquelas que, nos actuais tempos das teses de doutoramento feitas à pressão ou pela porta do cavalo, já não se escrevem. A escravatura foi um capítulo dessa sua grande obra. Um capítulo num total de vinte e sete. Conceda-se que, de então para cá, a investigação histórica sobre a escravatura fez grandes avanços e não custa admitir que, se republicasse agora a sua obra-prima, Magalhães Godinho triplicaria ou quadruplicaria a atenção e a saliência dadas à escravatura. Dedicar-lhe-ia quatro capítulos, suponhamos, e vinte e seis a outros aspectos da história económica dos Descobrimentos. É essa a dimensão e a proporção que devemos dar à escravatura no painel das nossas memórias sobre os séculos XV a XIX, e é bom que não percamos isso de vista porque os emotivos, tanto em Lagos como em qualquer outra parte, estarão sempre, a reboque das suas emoções e dos seus exageros, a puxar-nos muito para fora de pé.
observador





